Recentemente, deflagrou uma daquelas discussões absurdas no Twitter que nos irritam violentamente por mais ou menos dois minutos (até à indignação seguinte): alguém escreveu que o shoegaze é fascista.
Entretanto o tweet que espoletou a conversa foi apagado. O autor ou reconsiderou o que escreveu ou quis fugir das respostas iradas (provavelmente esta última).
Nem vale a pena refutar afirmação tão estapafúrdia. Contudo, interessa-me perceber de onde vem.
O shoegaze é profundamente apolítico, feito por e para quem não se quer envolver no mundo. Por e para quem prefere viver na própria cabeça, entorpecido, sonhador, afastado de quaisquer problemas sociais. Por mim falo. Essa fuga à realidade foi das principais razões que me atraíram.
Não admira que os revolucionários considerem o género musical mais um exemplo de «ópio do povo», tão mau quanto a religião e o futebol. Segundo Simon Reynolds, os Manic Street Preachers terão dito que detestavam os Slowdive mais do que odiavam Hitler, o que faz parecer o tal tweet um pouco mais sensato.
De Inglaterra…
Eu cá gosto muito mais dos Slowdive do que de Hitler. Os álbuns dos anos 90, Just for a Day, Souvlaki e Pygmalion, são óptimos e Everything is Alive, que lançaram no final do ano passado, anda lá perto. Já vi vários concertos deles e não me importava de ver outros tantos. Gosto de fechar os olhos e ouvir «When the Sun Hits» (que na versão ao vivo perde aquele coro de claque de futebol) ou «Golden Hair» (é possível não ficar arrepiado?), mesmo que Neil Halstead, Rachel Goswell e os outros estejam ali à minha frente, cada um concentrado nos seus pedais de efeitos.
Mas no outro dia pus-me a ouvir uma playlist de shoegaze dos anos 90 (de um leitor aqui do Diga-se de Passagem) e dei-me conta de que não conheço bem a maior parte das bandas associadas ao género. Claro que ouvi com prazer Nowhere dos Ride, mas vi-os num Primavera Sound e soaram-me a Brit pop genérica. Tal como agora os Chapterhouse e Catherine Wheel. Os Pale Saints são mais twee do que outra coisa. Swervedriver, Lush, Loop, Curve… Conheço os nomes, mas a música muito pouco. Por qualquer razão, nunca me dispus a ouvi-los com atenção.
Sou mais adepto do proto-shoegaze dos Cocteau Twins e dos Spacemen 3 ou do pós-shoegaze dos Lilys, cujo álbum Eccsame the Photon Band ouço frequentemente, e dos Rollerskate Skinny, que mereciam ser muito mais conhecidos1 — Shoulder Voices e Horsedrawn Wishes são obras-primas.
Pressentia talvez que nenhuma banda shoegaze poderia superar os My Bloody Valentine. A aspereza ácida, com laivos de rock mais encorpado, que ao vivo, sobretudo durante o «Holocausto», provocava reacções físicas (como os piretes dos fãs de Tool num festival em New Jersey) era inigualável. Gostar dos Slowdive já era uma sorte. Tinha razão e não tinha. Se superar os MBV fosse condição para ouvir o que quer que fosse, estava bem arranjado.
…ao Japão
Aqui há uns tempos, quis conhecer shoegaze japonês. Encontrei o que queria num vídeo do YouTube, o sítio da Internet onde perco mais tempo.
De todos os nomes mencionados, guardei uns três ou quatro que vou ouvindo regularmente (uso aqui as «ocidentalizações»): My Dead Girlfriend e o álbum Hades (The Nine Stages of Change at the Deceased Remains); Tokenai Namae e Before the Time Machine Breaks; e Oeil com Urban Twilight (estes apresentam-se mesmo em inglês).
A minha vontade de ouvir shoegaze cantado em japonês não se deve apenas ao meu ocidental fascínio pelo exotismo oriental2. Mas vou ter imensa dificuldade em explicar Hatsune Miku, a principal razão.
Nos primeiros anos deste milénio, a Yamaha criou um programa com vozes sintetizadas para serem usadas em canções como vocalistas virtuais. A engenhoca chama-se Vocaloid e funciona da mesma forma que outros programas de produção de música como o GarageBand ou o Ableton, nos quais basta um teclado para «tocar» o instrumento que se quiser.
Hatsune Miku é o nome da voz de Vocaloid mais conhecida e também da figura que desenharam para a representar. Esta é tão ou mais célebre do que qualquer personagem de manga ou anime (banda desenhada e desenhos animados, respectivamente). Este vídeo explica o fenómeno melhor do que eu:
Se o que acabei de escrever não era suficientemente estranho, quando pesquisei por Hatsune Miku senti que tinha entrado numa realidade paralela (não é figura de expressão).
Descobri que Hatsune Miku não só tinha aparecido no talk show de David Letterman (sim, está aqui) como «cantava» numa canção remisturada por Pharrell Williams (esta). Para cúmulo, dei conta de que iria integrar o festival Coachella em 2020 e só não o fez porque a Covid-19 cancelou o evento. Mas não temeis: o concerto aconteceu na edição deste ano. E provavelmente o mais estranho de tudo: Hatsune Miku participou em Weebmalion, uma mini-ópera bufa caseira, composta e realizada por Krzysztof Żelichowski, na qual faz um dueto com o tenor Aleksander Kunach… E achei que era melhor parar por aqui, não fosse ficar preso a este rabbit hole.
Dá para perceber que a voz de Hatsune Miku foi pensada para a pop mais orelhuda. E deve haver milhares de canções no Nico Nico Douga (o YouTube japonês) que usam o Vocaloid com esse intuito.
Mas como sempre há gente que usa as coisas de maneira errada (não quero imaginar até que ponto tenho razão, nem vou investigar): várias pessoas tiveram a feliz ideia de pôr Hatsune Miku a cantar shoegaze. A compilação Mikgazer Vol.1 reúne doze dessas canções.
A bota não devia bater com a perdigota, não é suposto haver uma voz digital no centro de um tapete sonoro feito de guitarras ruidosas. No entanto, apaixonei-me perdidamente pela música de Wintermute, um dos nomes da colectânea. Este ano, não consegui parar de ouvir o álbum Stray Light. Aliás, Wintermute foi o artista que mais ouvi em 2024.
Espera aí, mas serão mesmo guitarras?
Passando pela Coreia do Sul
Numa entrevista à Sonemic/Rate Your Music, Parannoul — autor dos álbuns de shoegaze mais interessantes dos últimos tempos (To See the Next Part of the Dream e After the Magic) — penitencia-se por não usar guitarras e por eventualmente ter levado os seus ouvintes a pensar que sim. A mim, enganou-me bem, isso é certo, nem me ocorreu que aquele som pudesse não vir de uma guitarra a sério. Ao entrevistador, que lhe pergunta por guitarras e pedais de efeitos, também não.
O sul-coreano, como incontáveis músicos que fazem música em casa, não precisa de instrumentos. Usa os tais programas de produção com colecções de sons que os imitam bem. A guitarra — peça central do shoegaze, usada como textura, como máquina de ruído, de dissonância, de feedback — foi substituída pelo computador.
Nem é da minha natureza agastar-me com este tipo de coisas, até porque faço música da mesma maneira, e a música electrónica ensinou-me algumas coisas. Por exemplo, que um computador é um instrumento igual aos outros, e que «autenticidade» é argumento fraco das mentes mais fechadas, cavalo de batalha do chamado rockismo.
No entanto, apesar de gostar muito deste shoegaze de contrafacção, tenho de confessar que talvez já seja artifício a mais. Curiosamente, o próprio Parannoul diz não ter paciência para quem quer escapar à realidade e refugiar-se numa qualquer fantasia. Já foi um deles e avisa: mais tarde ou mais cedo, temos de voltar para o lado de cá.
Breves impressões
The Awful Truth, de Leo McCarey
De The Philadelphia Story, de George Cukor, a His Girl Friday, de Howard Hawks, passando pelo atípico Mr. and Mrs. Smith, de Alfred Hitchcock, a reconciliação de casais é das premissas mais repetidas na screwball comedy.
Normalmente, ele e ela ainda gostam um do outro, mas o orgulho não permite que voltem a juntar-se facilmente. É preciso que outros pretendentes apareçam para causarem ciúmes. A raiz deste tipo de enredo poderá encontrar-se em Private Lives — a peça de Noël Coward adaptada ao cinema em 1931 —, mas provavelmente vem mais de trás, da literatura setecentista.
Aparentemente, Leo McCarey, realizador de The Awful Truth, mais um exemplo do sub-género da reconciliação, não gostava nem da peça de Arthur Richman nem dos argumentos que a adaptavam fielmente. Decidiu começar a filmar sem ter guião final, pedindo aos actores — Cary Grant, Irene Dunne e Ralph Bellamy — para improvisarem as cenas. A princípio, sentiram-se desconfortáveis, mas foram-se acostumando, dir-se-ia florescendo (sobretudo Grant).
A história, de facto, é um bocado desconjuntada. Arranca e vai sempre andando aos solavancos, sendo bem menos fluida do que outros clássicos da screwball comedy. Tem uma lassidão parecida à de Twentieth Century, de Howard Hawks, no qual o comboio demora a entrar na linha (férrea).
Cary Grant protagoniza a maioria destas comédias de reconciliação. Não é por nada: era especialista em tornar adoráveis características que noutros mortais seriam desprezíveis. Como por exemplo, ter tentado sair do filme a meio, traição que McCarey supostamente nunca perdoou, embora tenham feito An Affair to Remember nos anos 50.
Duas curiosidades. O casal formado por Grant e Irene Dunne não tem filhos, portanto luta pela custódia de Mr. Smith, o cão interpretado pelo mesmo Skippy de The Thin Man. E Ralph Bellamy, o pretendente saloio de Irene Dunne, ensaia o menino da mamã de His Girl Friday, embora neste caso ninguém reconheça que a personagem é parecida com o actor.
O final de The Awful Truth parece coisa de pré-código, com Grant e Dunne de pijama, a dormir em quartos diferentes, é certo, mas separados apenas por uma porta que a tempestade não deixa fechar-se completamente.
Três Homens de Bicicleta, de Jerome K. Jerome
É curiosíssimo: sei que gostei bem mais de Três Homens de Bicicleta do que de Três Homens num Barco, mas lembro-me muito melhor do segundo do que do primeiro.
Jerome K. Jerome começou por escrever Three Men in a Boat — o mais famoso, tem várias traduções em português. A sequela Three Men on the Bummel, publicada onze anos depois, em 1900, é menos conhecida.
Li esta última na versão da extinta Cotovia, com tradução de Luísa Costa Gomes. (A outra, da Alma dos Livros, até tem um título diferente: Três Homens Numa Viagem.) Mas ao passar agora os olhos pela sinopse, constato que a acção se passa na Alemanha, o que é uma novidade para mim. É como se nem tivesse lido o livro.
Será que o li? Tinha-o na mesa de cabeceira (costumo ler antes de adormecer) e o marcador avançou pelas páginas, portanto assumo que sim. (Sempre tive esta dúvida: o que é que retemos de um livro, passados uns tempos? Muito pouco, ao que parece, às vezes apenas a sensação de que gostámos.)
Recordo-me com mais exactidão («exactidão» não será a palavra certa: não há nada de exacto na minha memória) das peripécias de Três Homens num Barco — que segue a viagem de três amigos pelo Tamisa — e das razões por que não gostei tanto. É mais pomposo, mais «patriótico», o autor não consegue evitar maravilhar-se com o seu país, com a paisagem, com o pitoresco, cortando assim a graça das pequenas histórias que narra.
O humor de Jerome é auto-depreciativo a dois níveis, individual e colectivamente. Apresenta-se a si e aos seus amigos como uns tontos, prontos a avançar com as decisões mais absurdas. Mas a burrice tem sempre menos que ver com falta de inteligência do que com a consciência de que se safarão façam o que fizerem. Uma consciência de classe, portanto, que mal esconde o orgulho de se ser assim estouvado.
Dá-me ideia de que Três Homens de Bicicleta não sofre do primeiro problema, até porque se passa no estrangeiro. E é menos afectado pelo segundo: Jerome é menos auto-indulgente consigo e com os seus.
Ou então estava com menos vontade de gostar de Três Homens num Barco quando o li. Também pode ser isso.
Uma mixtape à antiga
Fiz uma mixtape com as bandas e canções mencionadas nesta edição do Diga-se de Passagem.
No lado A, a versão ocidental do shoegaze (e similares), com My Bloody Valentine, Slowdive e Cocteau Twins. No lado B, a oriental, com as bandas japonesas que ainda praticam o género com guitarras e os músicos que já não precisam delas, como Parannoul.
Por hoje é tudo. As palavras são minhas. A revisão é da Beatriz Marques Morais. Espero que tenham uma boa semana. Até ao próximo domingo.
A banda, que foi buscar o nome a The Catcher in the Rye, de J. D. Salinger, sofreu sempre devido à presença de Jimi Shields, irmão de Kevin dos MBV, que até acabou por sair. Os ouvintes estavam à espera de shoegaze. E, na verdade, os Rollerskate Skinny são mais percursores de uns Animal Collective, como disse o crítico musical João Bonifácio.
Que também me levou ao city pop, música feita no Japão na passagem dos anos 70 para os 80 que se apropriava do funk, soul e sobretudo do disco norte-americano.





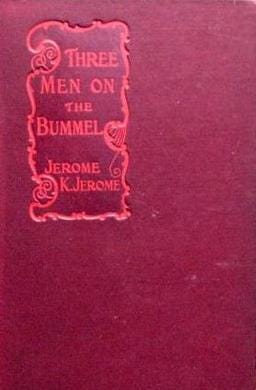
Segui muito este género musical - que combinou muito com a minha juventude açoriana e as suas paisagens que rimavam muito com alguns álbuns (como o primeiro dos Ride). Sobre a discussão, que tem algo de hilariante, ponhamos as coisas desta forma elementar: o shoegaze olha para o chão. O fascismo levanta o braço e olha para cima.
Não sei se vais ler isto dum texto já antigo, mas até que ponto não há um paradigma semelhante no slowcore americano? Sónicamente muito diferentes do shoegaze, os Red House Painters, os Codeine ou os Spain, tinham também esse lado ensimesmado, essa recusa do mundo. Por sons diferentes chegaram ao mesmo sitio. Concordas com este paralelo?