Coppola: o homem e o seu sonho
Megalopolis é a realização de uma obsessão de décadas, mas o melhor (auto-)retrato de Francis Ford Coppola encontra-se num filme com quase quarenta anos
No final dos anos 40, Carmine Coppola adquiriu um Tucker 48. O músico também investiu na empresa que os produzia, a Tucker Corporation.
Pensado como o «carro do futuro» pelo empreendedor Preston Tucker, o Tucker 48 tinha um design inovador e características que só viriam a ser comuns anos mais tarde, como cintos de segurança e discos de travão. Havia outros atributos mais inusitados: o motor e a bagageira estavam trocados; os faróis seguiam a direcção do carro; e o vidro da frente saía em caso de acidente (como nos carros desportivos).

Seja porque Tucker fosse vigarista (convicção do Estado norte-americano, que o processou, acusando-o de ter intrujado milhares de investidores, incluindo Carmine), seja porque a indústria automóvel de Detroit tivesse tentado de tudo para impedir o seu sucesso (a teoria do próprio Tucker), o carro nunca foi produzido em massa. Embora o empresário tivesse sido inocentado, a Tucker Corporation faliu e a fábrica de automóveis fechou.
Existem alguns exemplares do carro por aí. Não mais de cinquenta. Ao que parece ainda andam. George Lucas tinha dois (entretanto vendeu um) e Francis Ford Coppola tinha outros tantos. Talvez ainda os tenha, talvez um deles seja o que o pai comprou.
O que podia ter sido
No final dos anos 80, George Lucas insistiu com Coppola para que ele fizesse um filme da história de Preston Tucker. Acreditava que poderia ser o relançamento da carreira do amigo.
Alguns anos mais novo do que Francis Ford Coppola, Lucas fora seu protegido no início dos anos 70, quando ainda andava a fazer filmes de ficção científica experimentais (THX 1138). Agora, depois dos êxitos das Guerras das Estrelas e dos Indiana Jones, era ele quem estava na mó de cima.
De qualquer forma, Coppola já se interessara pela figura de Tucker, muito antes de a Zoetrope, a sua produtora, ter falido. Ainda nos anos 70, havia pensado em Marlon Brando para interpretar o papel principal. A ideia era combinar as técnicas narrativas de Citizen Kane, o efeito de distanciamento de Bertolt Brecht e a energia vaporosa dos musicais.
O cineasta não fazia as coisas por menos. Leonard Bernstein chegou a estar envolvido no projecto, assim como a dupla de argumentistas e letristas Betty Comden e Adolph Green (co-responsáveis pelo sucesso de Singin’ in the Rain e The Band Wagon). Até Gene Kelly foi convocado para fazer a coreografia (com quem Coppola haveria de colaborar e de se chatear em One from the Heart). Esse Tucker ambicioso — vamos usar a palavra certa: megalómano — nunca chegou a existir.
O mais espantoso é que Tucker: The Man and His Dream, o filme que Coppola acabou por realizar em 1988, tenha conservado qualquer coisa dessas influências, embora se tenha «caprizado» pela mão de Lucas e do argumentista Arnold Schulman (de A Hole in the Head, mas também de Love with the Proper Stranger, de Robert Mulligan) — o discurso final de Jeff Bridges (um actor consistentemente estupendo), no qual defende a livre iniciativa norte-americana, o direito de sonhar, de imaginar, de criar, soa aos monólogos de James Stewart e Gary Cooper nos filmes de Frank Capra (e ao de Cooper em Fountainhead, de King Vidor).
A Kane foi buscar o falso noticiário inicial, a profundidade de campo — Coppola e o director de fotografia Vittorio Storaro preferem filmar cada cena com o mínimo de planos possível, pondo a câmara e os actores a dançar nos cenários luxuosamente construídos por Dean Tavoularis, um bailado conhecido do cinema clássico americano.
A Brecht, um excesso que trava a identificação do espectador. Os «maus da fita» são demasiado maus, demasiado retorcidos. O inimigo mais venenoso é o senador do Michigan interpretado por Lloyd Bridges, pai de Jeff (Freud explicaria). Mas quem fica com pior imagem é Bennington, a caricatura do cinzentismo burocrático, cujo único objectivo é estragar os planos do herói-empreendedor — aparentemente a pessoa na qual se baseia não tinha nada que ver com a personagem, mas a ficção (ou a mania de perseguição de Coppola) assim o exigiu.
Apesar de tudo, o filme olha para o seu protagonista com uma certa desconfiança. O Tucker de Jeff Bridges é um fala-barato, um vendedor da banha da cobra, que põe a sua vontade à frente de familiares, amigos e colegas. Arrasta-os até ao fundo se for preciso, embalando-os com o sorriso estudado ao espelho (a imitar Clark Gable). O optimismo cego é contagiante, maníaco, feérico. Leva tudo à frente e os outros atrás. Até o homem de negócios de Martin Landau (a personagem mais bonita do filme; Landau merecia pelo menos mais este Óscar) se deixa «infectar» pelo sonho.
Do musical, traz a alegria do cinema puro. Um cinema artificial, de estúdio, que brinca com «antiquados» truques de câmara (numa cena, Tucker galga distâncias no mesmo plano, sem ajuda do CGI, nessa altura incipiente), no qual as imagens se fundem umas nas outras, criando uma terceira imagem que só o cinema pode dar. As cores primárias da iluminação de Storaro ajudam ao irrealismo geral, enquanto a banda sonora de Joe Jackson se faz de buzinas de carros, estalidos e o matraquear de máquinas.
Tucker = Coppola?
Provavelmente, é demasiado fácil afirmar que Coppola se revê em Tucker. O próprio realizador se queixa (nesta entrevista no podcast de Ryan Holiday) de o verem sempre como o protagonista do seu último filme. Depois de The Godfather, era frio e calculista como Michael Corleone; depois de Apocalypse Now, um déspota enlouquecido, um Kurtz; e por aí em diante.
No entanto, torna-se inevitável tecer comparações entre o processo criativo do cineasta e o do fabricante de automóveis. Às tantas, Tucker exaspera-se ao ver o carro que vai sendo fabricado afastar-se do ambicioso projecto inicial. Os mecânicos obrigam-no a concessões atrás de concessões. «What’s left of it, anything?», pergunta, meio enfurecido.
Não custa imaginar Coppola chateado com toda a gente, se o filme não estivesse a sair como ele queria. Imaginamo-lo a criar inimigos — a pressão dos estúdios, colaboradores indisciplinados, como Gordon Willis nos Godfather — para culpar os atrasos, o insucesso da empreitada.
Na série The Offer, sobre a realização do primeiro Padrinho, o cineasta é interpretado com aparente justeza por Dan Fogler. Está sempre zangado com alguém, com alguma coisa, como se precisasse desse combustível para funcionar. Ameaça despedir-se. Faz fita a qualquer contrariedade. Luta pelo que quer – Al Pacino deve-lhe a carreira: o realizador fez tudo para que fosse contratado e para que não fosse despedido pelos produtores desconfiados da escolha (e Pacino respondeu-lhe com uma interpretação magistral).
Da mesma maneira que Preston Tucker fez all-in com o Tucker 48, Coppola não teve pejo de apostar tudo. Em One from the Heart, não depositou apenas o sonho de um novo tipo de cinema digital, também investiu boa parte das suas finanças — e passou a década de 80 a pagar dívidas, realizando «filmes menores» (não são, são quase todos obras-primas: The Outsiders, Rumble Fish, Peggy Sue Got Married, Gardens of Stone, Tucker).
Como com qualquer jogador, o problema foi ter começado a ganhar, foi a loucura de Apocalypse Now — registada pela câmara da mulher, Eleanor Coppola, e depois montada no documentário Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse, de Fax Bahr e George Hickenlooper — ter corrido bem. O filme de Coppola sobre a Guerra do Vietname era um desastre anunciado, já toda a gente, da imprensa aos que não gostavam dele, se preparava para o atacar. O filme acabou por ganhar a Palma de Ouro em Cannes e ser um sucesso de crítica e público.
One from the Heart era para ser um filme pequeno, depois dos excessos de Apocalypse Now. Meio artesanal, feito nos estúdios da Zoetrope. Mas foi-se tornando mais complexo e o orçamento engrossando, sem que Coppola abandonasse o seu método laborioso de procurar o filme durante as filmagens (costumava ser o método de Charlie Chaplin, por isso as suas últimas longas-metragens demoraram tanto a ser feitas).
Coppola gosta de não saber para onde vai, e não se importa de esperar mesmo que carregue uma máquina pesadíssima e caríssima.
No final de Tucker, Coppola «põe-se» a si próprio no banco dos réus (e absolve-se). Pode não ter feito exactamente o carro desenhado (o filme imaginado), mas deu tudo de si, fez o melhor que pôde. Mesmo que o carro não seja produzido em massa (o filme não seja visto por muita gente), a beleza do objecto é que interessa.
Megalomanias
Francis Ford Coppola sonhava com Megalopolis há décadas, sabe-se que o queria realizar desde o início dos anos 80. Já esteve para acontecer duas vezes. Em 2001, esteve quase-quase, não fossem os ataques de 11 de Setembro... Por esta altura, pensava-se que já não o conseguiria fazer. Mas é melhor nunca subestimar um optimista inveterado como Coppola.
Nos últimos trinta anos, o realizador dedicou-se às vinhas e à produção de vinho. Fez apenas alguns filmes de baixo orçamento (guardo simpatia por Tetro, Twixt é demasiado estranho para dizer o que seja), parecia ter desistido do seu grande projecto.
Afinal, estava a angariar dinheiro para produzir Megalopolis do próprio bolso. Vendeu parte do negócio dos vinhos por 500 milhões de dólares e pôs 120 no filme. Ao contrário de Martin Scorsese — a quem a Netflix financiou The Irishman, outro projecto acalentado durante muitos anos (por isso é que os actores estão todos velhos) —, Coppola recusou o streaming.
Para ele, é uma espécie de «home video», como diz no Konbini Video Club1. O cinema é para ser visto em sala. E, se é para rever os filmes em casa, mais vale o DVD.
No início de 2020, a pandemia ainda o tentou travar. As filmagens foram adiadas. Os deuses pareciam estar contra ele (os deuses atacam sempre os que querem ser como eles). Mas lá acabou por se fazer. Depois de uma passagem morna pelo Festival de Cannes, anda agora a estrear-se por esse mundo fora.
Megalopolis terá feito pouco mais de onze milhões na bilheteira, um retorno de apenas 10%. O valor até poderá crescer, mas o cineasta dificilmente recuperará o investimento. Por outro lado, o filme tem dividido os críticos. Há muito tempo que um filme não gerava opiniões tão antagónicas. Há quem o ache óptimo, apesar (ou por causa) dos seus defeitos. Há quem não veja ponta por onde lhe pegar.
De qualquer forma, Coppola não faz caso se Megalopolis não tiver sucesso crítico e comercial imediato, uma vez que está convencido de que será reavaliado em alta, como outros filmes seus, incluindo One from the Heart. Na conversa para a Konbini, defende que os filmes estranhos de grande orçamento são sempre considerados óptimos a longo-prazo. A sua ambição é a de que Megalopolis se torne um filme de Thanksgiving e reconcilie famílias e adversários políticos, quiçá conquiste a paz entre os povos [adenda minha].
Por muito que Coppola recuse o epíteto de megalómano, ajusta-se demasiado bem à sua persona. Na entrevista a Holiday, confessa ter especulado se as pessoas que ama não serão imaginação sua. Até foi ler sobre solipsismo.
O jovem Coppola
Claro que Coppola não é um mero solipsista. Também é um humanista, um homem culto, que é capaz de ficar horas a ler e a falar sobre História e Filosofia. Quando menciona os que perdeu — o filho Gio, nas vésperas da rodagem de Gardens of Stone; Eleanor, este ano (ainda viu Megalopolis) —, expressa-se com uma sinceridade tocante, saudosa, mas de quem não se quer deixar levar pelo desespero, pela tristeza.
Quer continuar em frente, enquanto puder. Quer fazer mais filmes, ler mais livros, conhecer mais pessoas. Talvez venha a ser como Manoel de Oliveira ou Clint Eastwood. Aos 85 anos, talvez ainda tenha uma dúzia de filmes por realizar. Ou talvez se fique por aqui. Muito já fez ele.
Só ficou uma coisa por dizer (que só pode parecer controversa a quem não o viu): Tucker talvez seja o melhor filme de Coppola. (Ainda não vi Megalopolis.)
Breves impressões
Copenhagen, de Michael Frayn
Acho que só fui uma vez à Sala Vermelha do Teatro Aberto, em Lisboa.
Vejo na Internet que terá sido em 2003. Abril ou Maio de 2003. Se bem me lembro o palco da Sala Vermelha é pequeno e circular. O espectadores sentam-se à volta. Ou talvez a memória me esteja a atraiçoar.
Ou muito me engano ou não havia mais nada em palco, só os actores, vestidos com roupas de época (anos 40): Paulo Pires como Heisenberg, Luís Alberto como Niels Bohr, a grande Carmen Dolores como Margrethe Bohr.
Mas ponho-me a imaginar um nevoeiro que me impedia de vislumbrar as motivações das personagens de Copenhagen.
Estas não estão vivas nem mortas, não estão aqui, nem ali. Estão presas a um momento, que rememoram, que revivem, que baralham, que as confunde, que as separa irremediavelmente.
Cada uma tem a sua versão sobre o que aconteceu quando o alemão Heisenberg regressou a Copenhaga (ocupada pelos nazis) durante a Segunda Guerra Mundial, e visitou o dinamarquês Bohr, seu antigo mestre com quem colaborara durante anos.
Michael Frayn pegou nas dúvidas que subsistem sobre este encontro — Bohr e Heisenberg nunca concordaram sobre o que significara — e dramatizou-as.
Segundo Bohr, Heisenberg, que estava à frente do programa nuclear alemão, viera ter com ele para perceber se a bomba atómica era possível e para sondá-lo, talvez para que se juntasse aos alemães (Niels Bohr acabaria nos EUA, no Manhattan Project).
Heisenberg insistiu sempre que não. Ao ir ter com Bohr, tentara estabelecer um acordo de cavalheiros para que ninguém usasse a energia nuclear de forma destrutiva. Aliás, ele que não era nazi pusera a sua própria vida em risco.
Se Bohr ainda dá o benefício da dúvida a Heisenberg, que estabeleceu o Princípio da Incerteza (na verdade, a peça de Frayn é toda sobre incerteza), a mulher, Margrethe, não dá a menor abébia ao alemão.
Não é preciso saber nada de Física (é difícil saber menos do que eu) para nos interessarmos pelo longo e tortuoso diálogo entre estes três fantasmas.
Realistic IX, dos Belong
Na semana passada, escrevi sobre livros reconfortantes. E usei o mesmo adjectivo para o álbum Frog in Boiling Water, dos Diiv. Como poderia fazê-lo para Realistic IX, dos Belong.
Apesar de não conhecer os Belong até há menos de um mês (bendita newsletter de Philip Sherburne, que mos apresentou), sinto-me «em casa» a ouvi-los. É o tipo de álbum que parece feito para mim (além de ser o tipo de álbum que gostava de fazer um dia: o meu sonho é misturar guitarras e batidas de música electrónica).
A comparação entre Diiv e Belong não é completamente disparatada. Embora os primeiros tenham um ouvido mais pop e os segundos se aproximem mais da música experimental e ambient, presume-se que a dieta musical dos dois grupos seja semelhante: muito shoegaze.
Realistic IX consegue a proeza de expor as influências ainda mais do que Frog. O terceiro álbum dos Belong, que já não editavam há 13 anos, parece uma adenda a Loveless dos My Bloody Valentine, um conjunto de lados B que ficaram esquecidos.
A sonoridade é tão semelhante que apetece dizer que nem Kevin Shields faria melhor: uma caixa de ritmos, imparável, marcial; guitarras cheias de efeitos, um som meticulosamente esculpido em estúdio, que às vezes nos chega como se estivesse a ser transmitido num rádio mal sintonizado.
Até parece uma piada, como se os Belong estivessem a responder aos críticos que diziam que eles eram shoegaze quando lançaram os primeiros álbuns, epíteto com que nunca concordaram.
A intenção de ir além de Loveless é patente em poucas canções: «AM/PM», que é como se «Soon» se transformasse num relaxante chill-out pós-rave; e sobretudo «Bleach», que leva o som dos My Bloody Valentine para a distorção pura, ondas de beleza ácida, brutal. É um momento lindíssimo, mas imagina-se ouvidos mais duros a rejeitar.
Para cúmulo, os dois primeiros álbuns de Belong são tão bons ou melhores do que Realistic IX: Common Era é a simbiose perfeita entre MBV e os Cure de Pornography; October Language é mais calmo, mais planante.
Por hoje é tudo. As palavras são minhas. A revisão é da Beatriz Marques Morais. Espero que tenham uma boa semana. Até ao próximo domingo.
Parecido com o Criterion Closet Picks, mas dá mais tempo para os convidados falarem.





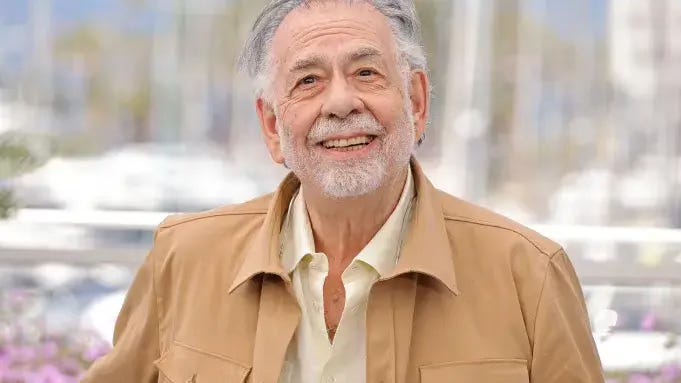
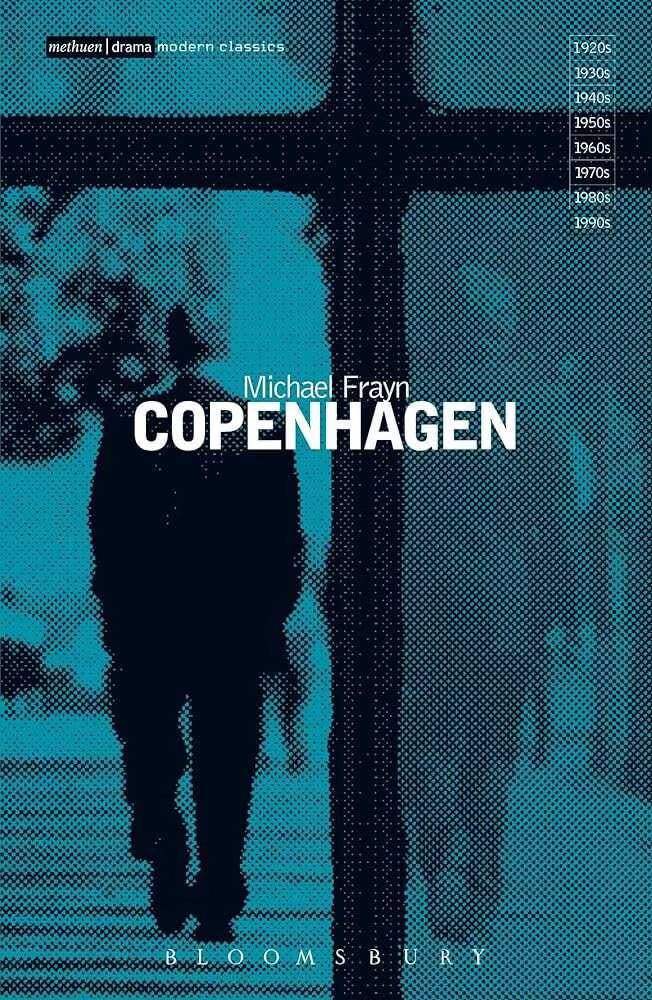

Acabei de ver Megalópolis e guardei para ler seu texto para depois de ver, achando que seria sobre o filme (risos). Mesmo sem ser, acho que traz alguns pontos para a reflexão deste último e valeu a pena ter lido. Fico no aguardo do texto após você assisti-lo também. Ainda estou digerindo a experiência de Megalópolis, por hora, a única coisa que consigo dizer é que se parece muito com um desfile de escola de samba do Rio de Janeiro.
Maravilha de texto.