Nunca gostei tanto de fumar como quando deixei de fumar.

Há seis meses, mais coisa menos coisa, fumei o meu último cigarro. Para quê esconder? Sei bem o dia: 12 de Maio. Marquei-o na agenda. Quase seis meses. Foi também o dia em que partimos para Berlim. Na verdade, fizemos tão-só a primeira etapa da viagem. Durante a noite, de autocarro, de Lisboa a Madrid1.
Dantes, fumava um maço por dia (às vezes mais, outras menos; quando saía à noite, mais, muito mais) há vinte e sete anos. E, no entanto, não me custou deixar de fumar. Ao contrário das insistências dos meus medos, jamais tive o desejo irreprimível de voltar a pegar num cigarro. Agora que escrevi a frase, percebo que é literalmente assim: não pego num cigarro há seis meses.
Antigamente pensava: «O que é que é suposto fazer com o indicador e com o dedo do pirete (nunca me lembro como se chama, se calhar nem tem nome)?»; «Servem apenas para fazer aspas no ar?».
Estou a mentir, nunca me perguntei isso, achei apenas que era uma coisa engraçada. Mas quando era fumador, o espaçamento entre esses dedos, o do pirete e o indicador, sobretudo na mão direita, era do tamanho do diâmetro do cigarro. Quando este não estava lá, era como se me tivessem amputado um pedaço do corpo.
Volto a exagerar. Mas sentia a falta do cigarro entre os dedos. Isso é verdade.
A droga de Leste
Escrevi que foi fácil deixar de fumar, mas não é bem assim. Demorou vinte e sete anos. Nos primeiros vinte e seis simplesmente não tinha vontade de o fazer. No último ano, mal sabia que o queria.
A minha desculpa foram as viagens que iria fazer de comboio a caminho de Berlim. Imaginei-me fechado durante horas sem poder puxar de um cigarro, como iria ficar completamente insuportável, preso ao desespero de pensamento único, obsessivo. Conheço fumadores que dizem que se esquecem magicamente de que são fumadores enquanto viajam.
A minha experiência é tão oposta que nem sei se acredito verdadeiramente neles. É como aquelas pessoas que fumam um maço inteiro quando saem à noite e no dia-a-dia conseguem afastar os cigarros do pensamento. Sempre as senti como traidoras à causa. Um fumador fuma a toda a hora e a todo o momento. Não se aguenta.
Um fumador não se aguenta sem fumar. Acho que esse começou a ser o meu maior problema com o tabaco. Nem foram razões de saúde, embora tenha tido uma rinite difícil de curar. Não é que me importasse sair à rua para fumar quando estava a chover. Também não foram preocupações monetárias, embora já tenha poupado uns quatrocentos euros entretanto2.
Não aguentava era não poder fumar. Aos poucos, foi-se tornando uma prisão.
Feita a decisão, faltava a execução. Para deixar de fumar tive a preciosa ajuda de um medicamento fabricado na Europa de Leste, mais precisamente na Polónia. Escrito assim, parece altamente suspeito, uma coisa contrabandeada, potencialmente perigosa. Mas é vendido legalmente em Portugal como Dextazin.
Na farmácia a que fui, pediram-me quase cem euros. Pensei duas vezes se devia avançar, até que a Beatriz o descobriu à venda na Amazon sob o nome Desmoxan (como é vendido em Inglaterra). Custava bem menos, mesmo somando os portes de envio. (Já não consigo encontrar o link. Mas encontro este que é parecido. Recomendo vivamente a quem quiser deixar de fumar.)
O componente principal do medicamento é a citisiniclina ou citisina. Supostamente (escrevo «supostamente» porque não sou entendido, não porque desconfie) bloqueia os receptores de nicotina, reduzindo a «necessidade» de fumar.
Nos primeiros dias, fui naturalmente reduzindo o número de cigarros. Teria de parar ao quinto dia, de qualquer maneira. Era o que mandava o folheto que tinha apanhado na farmácia. Penso que parei ao quarto, no qual fumei apenas um cigarro.
Cada dia custou-me menos. E, à noite, tinha sonhos vívidos, amarelos. Como o papel dos livros velhos. Ou as capas dos famosos giallo que deram origem ao género cinematográfico. Ou a yellow press de finais do século XIX, de Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst (o futuro Charles Foster Kane), que degenerou nos tablóides actuais (e não tenho a certeza de que fosse amarela).
Mas os meus sonhos não eram violentos, nem sensacionalistas. Eram vívidos. E amarelos. Para contra-indicação de um medicamento, não está mal.
O fiel companheiro
Há sete anos, mais coisa menos coisa, estive a viver em Berlim. Durante nove meses.
Ao princípio, não conhecia ninguém. Era a primeira vez que estava sozinho numa cidade estranha, verdadeiramente estrangeira (embora já a tivesse visitado).
Nas primeiras duas semanas, fartei-me de caminhar. Tinha um smartphone há muito pouco tempo e andava a contar os passos.
Logo no primeiro dia, fiz a Karl-Marx-Allee, uma das minhas avenidas preferidas. Dez mil passos de uma ponta à outra, até Alex (como os locais chamam a Alexander Platz).
Passei pelo Kino International (que este ano encontrámos em obras), tão imponente, tão rectilíneo, tão soviético3. O cinema estava a passar Western, de Valeska Grisebach, um óptimo filme erigido sobre a cara espantosa de Meinhard Neumann que vi um ano depois, já em Portugal.
À noite, comecei, timidamente, a ir uns bares, para não me enfiar logo no quarto de hotel em Friedrichshain (onde não faltam bares). Uma das vezes, sentei-me ao balcão, antes de ser abordado por um alemão de maus modos. Não entendi o que disse, mas percebi que era para sair dali. Aquele era o lugar dele. Tinha ido à casa-de-banho (esta parte não sei se ele disse).
Mas depressa encontrei aquele que passaria a ser o meu preferido: o Sheriff Teddy. Levei lá toda a gente que esteve em Berlim comigo, incluindo a Beatriz este ano.
Quando entrei no bar pela primeira vez foi como se tivesse saído de uma máquina do tempo para dentro de uns vagos anos 70 da Alemanha de Leste imaginados por Aki Kaurismäki. Apaixonei-me perdidamente. Lembro-me de estar sentado no andar de cima, com um cigarro na mão, a ouvir a excelente selecção musical.
Uma canção pareceu-me de Leonard Cohen, mas não podia ser. Fiz Shazam. Era a «Shut me Down» de Rowland S. Howard. Desde então, fiquei com o antigo guitarrista dos Birthday Party no coração (morreu tão novo!). Pop Crimes foi um dos meus álbuns desses meses em Berlim (o outro foi Adoro Bolos de Conan Osíris).
*Esta versão não é a de Pop Crimes, descobri-a no YouTube.
Quando voltei ao Sheriff Teddy este ano, pensei para comigo: «teria conseguido ir àqueles bares sozinho sem o meu tabaco?». Quando me sentia desconfortável, a primeira reacção era puxar de um cigarro.
De resto, a lista de razões que me faziam puxar de um cigarro era extensa: acordar, ter de fazer um telefonema chato, apanhar um transporte, sair de um transporte (mesmo que fosse uma viagem de vinte minutos como a do suburbano Barcarena-Lisboa), ir à casa-de-banho (tive medo de vir a sofrer de obstipação), conversar, beber uma imperial, beber café, a perda de um familiar, escrever, precisar de fazer uma pausa, pessoas irritantes, entrar numa sala de cinema, sair de uma sala de cinema, receber más notícias (e boas notícias também, como me dei conta há semanas), comer, fazer tempo, pensar, lidar com um desgosto amoroso, apanhar ar a meio de uma refeição aborrecida, esperar por alguém que nunca mais chegava, deitar-me, a ansiedade de o tabaco estar a acabar, insónias (simbolizadas por um cinzeiro cheio, imagem gasta, mas justa).
Puxar de um cigarro era a pontuação do meu quotidiano — as vírgulas, os travessões, os parêntesis, o ponto final.
A primeira idade
O tabaco foi a minha companhia nos primeiros dias em Berlim como foi durante vinte e tal anos, em inúmeras situações. Hoje em dia, sinto-me vulnerável, mais desprotegido. Talvez como antes de começar a fumar os Pall Mall de um amigo e os SG Lights surripiados ao meu pai.
Passou pouquíssimo tempo entre o meu primeiro cigarro e começar a fumar a sério, ou seja, a comprar maços. Quando fiz dezassete, já comprava regularmente, mas acho que só experimentei tabaco aos dezasseis. Durante uns tempos, tinha a teoria de que quem começava a fumar mais tarde ficava mais agarrado.
Costumávamos fumar à porta do Colégio. Como bom filho único, não gostava de partilhar cigarros. Até não me importava que me cravassem, o problema era os que só queriam dar um bafo e babavam o cigarro todo. Era da maneira que ficavam com ele. Mais ninguém queria tocar naquilo. Tinha um amigo (ainda tenho, mas também já não fuma) a quem só dava a ponta.
Havia também o estranho ritual de lançar cinza para a cerveja por, supostamente (este é mesmo de desconfiança), embebedar mais. Daqueles mitos nos quais só os adolescentes querem acreditar. Outro amigo meu ia-me batendo por eu usar a imperial dele como cinzeiro.
Claro que a culpa de ter começado a fumar é do cinema. Não é, mas podia ser. Não é, mas quase que é.
Lembro-me de que já fumava quando fui ver o One Night Stand, do Mike Figgis, ao Quarteto e do horror ao ouvir o Wesley Snipes dizer à Nastassja Kinski que já não se podia fumar nos bares de Los Angeles (na altura, ainda se podia fumar em todo o lado em Nova Iorque, onde o filme se passava).
Recordo-me de estar no Londres no intervalo do Jackie Brown — esse filme fascinado com o soul dos anos 70 e cigarros; toda a gente fuma: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Bridget Fonda, Robert De Niro (o único que destoa é o ex-fumador Robert Forster) — e apetecer-me tanto fumar, mas estava com os meus pais e não podia.
Também podia culpar as canções. O que seriam os Blue Nile sem o fumo a fazer tremer as luzes de néon. Ou como se poderia ouvir a «Heroin» dos Velvet Underground aos dezasseis anos sem um cigarro na mão? Mas uma canção não nos faz querer fumar. Como ver o Tony Leung, o actor mais cool do mundo, a acender um cigarro em câmara lenta num filme do Wong Kar-wai.
E podia continuar a enumeração: Bogart, a mexer no lóbulo esquerdo; Cassavetes, Falk e Gazzara a emborcar cerveja no Husbands, ora a rirem-se, ora zangados; Mastroianni sentado numa esplanada da Via Veneto, de perna cruzada e óculos escuros; Belmondo a passar o dedo pelos lábios; Jean Reno a oferecer Gitanes amarelos a De Niro no Ronin... Cigarros por todo o lado.
Paraíso perdido
Desde que deixei o tabaco, comecei a sonhar com fumar. Ao contrário do que se poderia supor, acordo sempre contente ao perceber que não fumei realmente. Foi só um pesadelo.
Pensei que a primeira frase deste texto era um bom mote. Que era suficientemente estranha para merecer a leitura do resto, mas não é inteiramente falsa.
Nunca gostei tanto de fumar como quando deixei de fumar.
Ainda me fascina ver pessoas a fumar. Nos cafés, nas paragens do eléctrico, à porta de um teatro. Penso no prazer que estarão a ter. Parece-me tanto mais requintado quanto menos me apetece repeti-lo.
Ter deixado de fumar é como estar a espreitar do lado de fora da casa da minha infância e não poder entrar. Abandonando a minha analogia, não posso mesmo entrar na casa da minha infância, ocupada por outras pessoas há mais de trinta anos (nem espreitar pela janela do segundo andar, acho que não é legal).
Mas ainda consigo visualizá-la. Nunca fumei lá dentro. Era muito novo.
Breves impressões
Jogadores/Sorriso de Elefante, de Pau Miró
No mês passado, alguns actores da companhia Artistas Unidos fizeram uma leitura de Jogadores de Pau Miró no Mercado de Arroios, no âmbito do FLIFA ’24.
João Meireles, António Simão, Pedro Carraca e Américo Silva estavam sentados lado a lado como se fossem conversar sobre um tema qualquer. Não havia cenário, nem adereços. Muito menos guarda-roupa. Trouxeram os trajes de casa. Nem sequer tinham decorado as falas. Leram das folhas que tinham na mão.
É natural. Jogadores esteve em cena em 2015, dirigida por Jorge Silva Melo. Há quase dez anos. O que eleva ainda mais a proeza dos actores. Como é que nos puseram, a nós espectadores sentados em cadeiras desconfortáveis, a viver aquela peça, como se estivesse a ser encenada diante de nós, com cenário, adereços e movimentações de palco? Porventura, o feito assenta no hábito de fazerem teatro radiofónico na Antena 2, no qual apenas dispõem das vozes e de efeitos sonoros.
Ou então na cumplicidade de anos daqueles quatro amigos a fazer de quatro amigos. É bonito ver como os outros sorriem (ou se riem) quando algum diz uma fala de maneira engraçada. Como, por pouco, não se desmancham a rir. Claro que o texto também é óptimo, revelando aos poucos as relações entre aqueles homens, patéticos, comoventes, mesquinhos, geniais.
Jogadores foi editada pelos Artistas Unidos em colaboração com as Edições Cotovia na colecção «Livrinhos de Teatro». Ainda existem exemplares à venda no site da companhia. Vem acompanhada por outra peça de Miró — Sorriso de Elefante. Não sendo tão boa, fica a dúvida se não ganharia vida com estes actores.
Pau Miró também é autor da trilogia dos animais, cuja encenação integral está programada para quando os Artistas Unidos tiverem novamente espaço próprio. Girafas, Leões e Búfalos estiveram em cena individualmente há pouco tempo. Só vi uma, Búfalos, mas se as outras estiverem ao nível desta, será com certeza um dos grandes eventos culturais do ano (qualquer que seja o ano em que se realize).
The Comeback Kid, de Marnie Stern
Marnie Stern é uma guitar hero, uma virtuosa que não se inibe de exibir as capacidades técnicas. Não tenho a certeza, mas parece-me que toca os instrumentos todos em The Comeback Kid.
Normalmente, tenho muitas reservas quanto a este tipo de músicos. A técnica pela técnica enfastia-me. Ou é exibicionismo ou auto-indulgência, duas características pouco atraentes. Não suporto guitarristas como Joe Satriani e Steve Vai, que me quiseram «vender» na adolescência.
Como em tudo, há excepções. Perdoo os excessos de J. Mascis, por exemplo, o paradigma do guitar hero da música rock alternativa dos anos 80 e 90. As suas habilidades técnicas são contrabalançadas pela introspecção quase autista e pela voz anasalada e arrastada (e pelas qualidades enquanto compositor e…).
Stern esteve ligada ao movimento math rock, que se divertia («divertia» não será a palavra certa, o math rock sempre foi um bocado sisudo) a entrelaçar guitarras umas nas outras em cima de baterias com tempos complicadíssimos e esdrúxulos.
Tenho ideia de que This Is It and I Am It and You Are It and So Is That and He Is It and She Is It and It Is It and That Is That (nem pensem que acabei de escrever isto, fiz copy + paste da Wikipedia), o outro álbum que ouvi dela, há não sei quantos anos, era chato e se alongava em demasia. De memória, não consigo descrevê-lo melhor, tenho de me contentar com aquele «chato». Memorável, pelo menos, não era.
The Comeback Kid tem menos de meia hora. Não chegou para o tempo em que estive a escrever sobre ele. Às vezes, sabe bem ouvir um álbum que não nos quer massacrar com a sua grandiosidade. Que se apresenta, diz o que tem a dizer, faz o que tem a fazer, e depois vai à sua vida. Se o quisermos reencontrar, temos de ser nós a ir ter com ele.
Não é que se faça de difícil, mas não quer maçar. Pelo que nos apetece ainda mais pô-lo a tocar. É divertido, é catchy, é pop (dentro das matemáticas do rock mais cerebral). É um prazer, uma delícia. De quantos álbuns podemos dizer o mesmo, incluindo aqueles de que gostamos muito?
Uma sugestão
A primeira vez que tentei ver Les vampires, de Louis Feuillade, parei passados uns minutos. A câmara era demasiado estática e os actores representavam como se fosse o proscénio do teatro. Pareceu-me uma técnica demasiado primitiva, rudimentar. Se sempre tive alguma dificuldade com o cinema mudo, pior ainda com os realizados nos anos 10.

Só depois de ler o Figures Traced in Light, o soberbo livro de David Bordwell sobre mise-en-scène, comecei a ver de outra maneira (se quisesse ser mais poético, escreveria apenas «comecei a ver»).
O primeiro serial de Feuillade que vi foi Fantômas. De seguida, fui para Judex. O primeiro é melhor do que o segundo (acho mais graça à versão de Georges Franju de Judex, embora não seja perfeita). O melhor, no entanto, é mesmo Les vampires4. É de uma inventividade, de uma leveza, de uma alegria de fazer cinema insuperáveis.
Os heróis de Feuillade não costumam ser muito interessantes (Judex é um sonso a roçar o insuportável), mas o Philippe Guérande de Édouard Mathé é arrogante e astuto, um inimigo verosímil para a grande vilã Irma Vep de Musidora, das figuras mais conhecidas do cinema mudo (deu origem a um filme e uma série de Olivier Assayas). E ainda há o Mazamette de Marcel Lévesque.
A possibilidade de ver todos os episódios em cinema é imperdível. Ainda mais, musicados pela banda de Rodrigo Amado. Vai acontecer no âmbito do Leffest: terça, quarta e quinta-feira da próxima semana no Cinema Tivoli (há quantos anos não vejo um filme lá?).
Por hoje é tudo. As palavras são minhas. A revisão é da Beatriz Marques Morais. Espero que tenham uma boa semana. Até ao próximo domingo.
O resto foi de comboio. Madrid-Barcelona, Barcelona-Paris, Paris-Berlim. Posso ter deixado de fumar, mas não deixei de ter medo de andar de avião. Aliás, aparentemente piorou desde a pandemia. Na volta, fizemos Berlim-Paris, Paris-San Sebastián, San Sebastián-Madrid, Madrid-Lisboa.
O tabaco de enrolar é bem mais barato do que um maço de Marlboro, mesmo os moles. Se tivesse continuado no Marlboro, teria poupado uns mil euros agora. Faz lembrar aquela anedota do Salazar, a quem um ministro se gabou de ter poupado os centavos do bilhete do eléctrico que tinha perdido, ao correr atrás deste. O ditador português respondeu-lhe que mais valia ter perdido um táxi, assim poupava mais. Por falar em maços moles, ainda me irrita que as pessoas não saibam abri-los. Rasgam aquilo tudo, quando basta metade, até ao selo.
Adoro aquele estilo como adoro o Português Suave, que se tornou marca distintiva do Estado Novo. A minha paixão pela arquitectura das ditaduras só se equipara com o brutalismo da social-democracia. A Karl-Marx, o Kino International e imediações fizeram de Moscovo em The Queen’s Gambit. E a Humana de Frankfurter Tor, de uns armazéns de uma cidadezinha americana dos anos 50 (o que me desorientou completamente quando vi a série).
Esqueci-me de mencionar o serial preferido de David Bordwell: Tih Minh, sobre o qual escreveu neste texto de 2022 — ao que parece, quando o reviu pela última vez, gostou um bocadinho menos do que habitualmente.




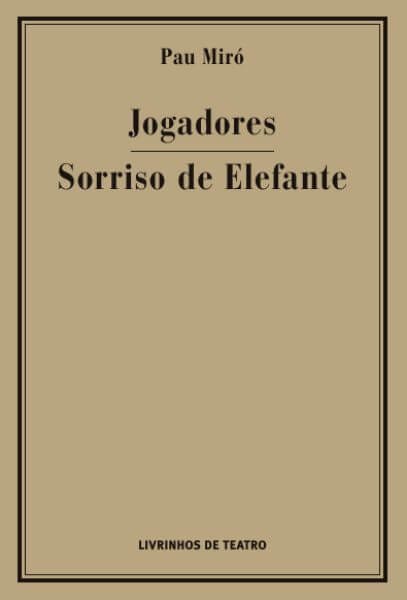

Esqueceste-te foi de dizer que o cigarro acelera a realidade. Quantas vezes o comboio ou o autocarro não aparecem e aquela pessoa não chega, até que acendemos um e tudo se precipita? Eu culpo o tabaco, se não existisse ainda estava à espera do 19 da Carris em Moscavide desde 1998, a ouvir o recém-comprado Death to the Pixies nuns fones manhosos que comprei na Avenida a 300 escudos na loja de electrónica onde ia comprar cassetes de video. E eu gosto do filme, mas não dou para Morangos Silvestres na minha vida, onde tudo ficou igual desde antanho. Se não tivesse começado a acender cigarros, acho que o tempo não se teria precipitado e isso é inaceitável.
Blue Line ou Blue Nile ?