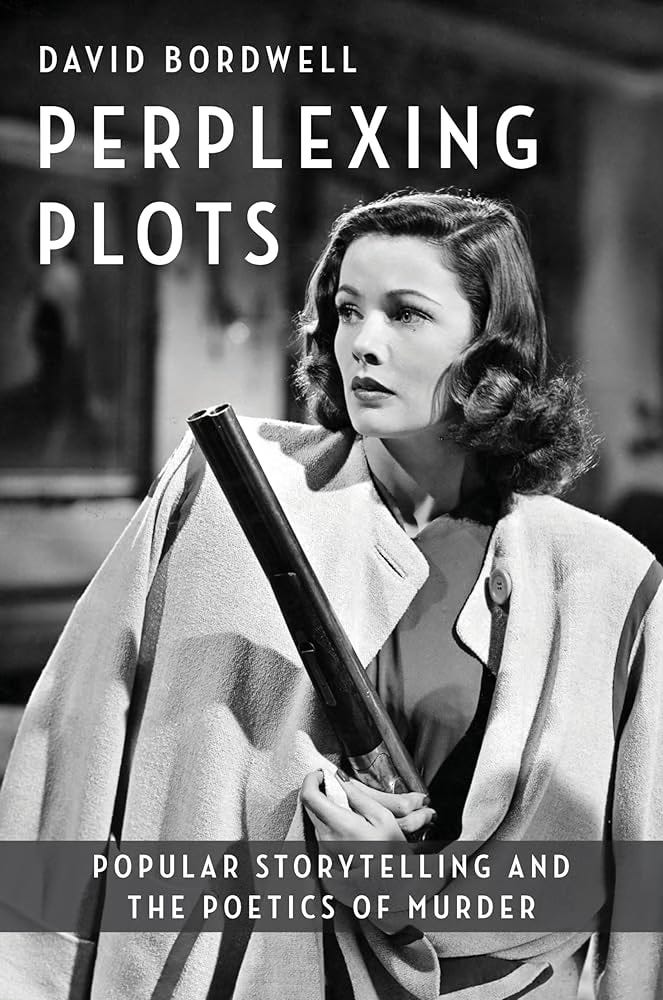Decidir a melhor cena da história do cinema é um exercício pueril, sem grande interesse, até um bocado parvo. Portanto, ideal para cinéfilos (como, por exemplo, discutir a melhor intro de sempre será para melómanos1).
Não sei se acho sequer que esta é a melhor cena do cinema. Nunca pensei nisso e, se pensasse, provavelmente diria que não, que há outras, que é impossível escolher.
No entanto, volto a ela uma e outra vez. Quando vejo Blue Velvet, fico à espera que apareça, satisfeito por saber que vem aí.
A banda sonora é «In Dreams», lindíssima e tenebrosa canção de Roy Orbison (ou «Candy Coloured Clown», como lhe chama Frank Booth2).
De um lado, no campo, Dean Stockwell — maquilhado, com um brinco na orelha, «suave, so fucking suave» — canta-a para Dennis Hopper. Em playback. Empunhando um holofote de construção como se fosse um microfone. Hopper ouve-o de olhos fechados, sonhador. Num momento, emocionado, quase em lágrimas; no seguinte, a explodir de raiva e tensão sexual.
No contracampo, do outro lado, Brad Douriff dança com uma cobra (?), como eu imagino que Gerard Malanga manejava o chicote nos espectáculos Exploding Plastic Inevitable dos Velvet Underground e Andy Warhol. Jack Nance, de chapéu e bigode, agarra o assustado Kyle MacLachlan e provoca-o ainda mais. J. Michael Hunter, o mais desconhecido dos actores em cena, ajuda Nance, enquanto lá atrás se abre uma porta e entra Isabella Rossellini, despenteada, chorosa, derrotada.
Em pano de fundo no campo, está uma rapariga que se vai juntar ao grupo na cena seguinte e um boneco que parece um palhaço. O contracampo está povoado por senhoras obesas de óculos muito graduados e penteados volumosos. Esperam sabe-se lá o quê. Uma até faz tricot, para se entreter.
Não pertencem àquele universo de crueldade e perversão. Parecem vir de uma fotografia dos anos 50, tirada à porta de uma mercearia da Main Street de uma qualquer cidadezinha norte-americana.
Unheimlich
Os alemães têm sempre a palavra certa (normalmente composta) para conceitos difíceis de explicar. Unheimlich — qualquer coisa como a estranheza (do) familiar — é o adjectivo certeiro para definir o imaginário de David Lynch.
Toda a filmografia do realizador norte-americano vive na e da tensão entre estranheza e familiaridade. Quando pende demasiado para a bizarria, perde-se (perde-me) — Eraserhead é um filme que me deixa sempre de fora. Quando pende para a normalidade, fica insosso, incaracterístico — se The Elephant Man emula o filme clássico com elegância, The Straight Story roça a banalidade, quase como se fosse uma paródia de um filme vulgar.
Diz-se que David Lynch estabelece primeiro a visão idílica de um local para depois mostrar o mal subterrâneo. Mas mesmo à superfície, Lumberton, a cidadezinha de Blue Velvet, é uma versão delicodoce da harmonia do pós-Segunda Guerra transformada em falsificação, na qual nem os rouxinóis são verdadeiros. E é tão ou mais desconfortável do que o apartamento de Dorothy Vallens (que nome!) ou do que a casa de alterne de Ben (a personagem de Dean Stockwell).
E não é o «mundo real» de Mulholland Dr., a imagem chapada de uma soap opera de qualidade duvidosa, tão perturbador quanto os pesadelos de Naomi Watts ou o sem-abrigo que vive atrás da loja de donuts? Não há propriamente distinção entre aparência e o absconso nos filmes de Lynch. Tudo se encontra nos sonhos e pesadelos.
Segundo a Wikipedia, o biógrafo de Roy Orbison, Ellis Amburn, disse que «In Dreams» se apropriava bem à temática de Blue Velvet por ser menos sobre amores perdidos do que sobre poder e controlo. Se os versos «In dreams, I walk with you / In dreams, I talk to you» lembram Peter Ibbetson, no qual os amantes se encontram nos sonhos, na canção de Orbison, um dos amantes é constrangido a comparecer. É sonhado contra a sua vontade, o que pode ser considerado um abuso sonial.
O onirismo de Lynch esconde (mal) a ansiedade e a sofreguidão. Quando as suas personagens sonham, congeminam homicídios, perdem-se nos meandros da obsessão, das suas fixações. Criam realidades alternativas nas quais querem obrigar os outros a entrar. Pense-se em Diane Selwyn de Mulholland Dr., que constrói uma fantasia complicada para não lidar com a verdade, e no poder destrutivo do seu desejo.
Dessa maneira, Abre los ojos, de Alejandro Amenábar, e, consequentemente, Vanilla Sky, de Cameron Crowe, são versões menores do cinema de David Lynch — assim como este está permanentemente a tentar refazer Vertigo, de Alfred Hitchcock. É curioso que o filme que mais mal estar me causou (e nunca o revi, nunca quis) seja mesmo Vanilla Sky, provavelmente o pior de todos.

Os mortos
Tirando as figurantes, de que desconheço o destino, restam apenas três dos actores que aparecem na sequência «In Dreams» de Blue Velvet: Rossellini, MacLachlan e Douriff. Os outros já se foram.
Dennis Hopper, que chegou a contracenar com James Dean em Rebel Without a Cause e Giant, morreu há quinze anos. Figura determinante da Nova Hollywood, dispensa grandes apresentações, que é o que se costuma escrever quando não se está com paciência. Basta mencionar que realizou Easy Rider, o filme que mudou tudo. Se calhar, o facto mais surpreendente (ou mais desconhecido) acerca de Hopper é ter tirado os retratos das capas da compilação Best… dos Smiths.
Dean Stockwell é dos meus actores preferidos. Conheci-o como Al da série de viagens no tempo Quantum Leap, de charuto numa mão e uma piada na outra. Mesmo adolescente, gostei logo dele. Redescobri-o no miudito titular de The Boy with Green Hair, de Joseph Losey, no órfão do lindíssimo Stars in My Crown, de Jacques Tourneur, no assassino de Compulsion, de Richard Fleischer, no irmão tristonho de Paris, Texas, de Wim Wenders, no criminoso melancólico de Beverly Hills Cop II, de Tony Scott, no Howard Hughes de Tucker: The Man and His Dream, talvez o melhor filme de Francis Ford Coppola... E poderia continuar. Morreu em 2021, aos 85 anos. Quero acreditar que em paz.
Jack Nance, o protagonista de cabelo revolto de Eraserhead, fazia parte da trupe de David Lynch — deve ter entrado em quase tudo o que o realizador tocou. O actor tem uma história triste. Sofreu de alcoolismo quase toda a vida. Aparentemente quem o salvou foi Dennis Hopper, que depois de ter vencido os seus próprios vícios o arrastou para uma clínica de reabilitação, por alturas da rodagem de Blue Velvet. Jack aguentou-se uns bons anitos, até que a mulher se suicidou, quando ele estava a rodar outro filme. Perdeu-se depressa. Morreu poucos anos depois.
J. Michael Hunter morreu relativamente novo, sem ter entrado em nada de muito assinalável depois de Blue Velvet. Imaginemo-lo como uma daquelas personagens perdidas dos filmes que Lynch realizou sobre Hollywood: Mulholland Dr. e Inland Empire. Mas pelo que leio, a sua vida foi muito mais normal do que isso. Pelos vistos, era bastante religioso.
Roy Orbison parecia tão velho aos vinte como aos cinquenta e três anos, idade que tinha quando morreu. Ou tão novo, é difícil de dizer. Orbison era daquelas pessoas sem idade. Que em vida já parece o seu próprio fantasma. Não custa perceber o que David Lynch viu (e ouviu) nele. Reza a lenda que não apreciou sobremaneira o que o realizador fez com a sua canção. A verdade é que lhe revitalizou a carreira. Por pouco tempo. Morreu passados dois anos de Blue Velvet ser lançado.
Os vivos
Isabella Rossellini é, a par de Liza Minnelli, a cine-filha de eleição — Roberto Rossellini e Ingrid Bergman contra Vincente Minnelli e Judy Garland não é uma escolha óbvia. Não é por acaso que Martin Scorsese, o mais cinéfilo dos realizadores, foi casado com uma e namorado da outra. Mas evitemos reduzir Isabella à sua ascendência ou às relações amorosas — não vamos referir, por exemplo, que era companheira de Lynch na altura de Blue Velvet e que este foi acusado de misoginia pela tortura a que a sujeitou e por expô-la a uma nudez crua e reveladora (há poucas nudezas tão nuas).
Kyle MacLachlan nasceu para o cinema como alter ego de David Lynch e nunca conseguiu desvincular-se do realizador. Tentou ser Ray Manzarek em The Doors, um homem da idade da pedra em The Flintstones, um gajo seboso em Showgirls, até andou impotente pelo Sex and the City. Mas quem olha para ele lembra-se sobretudo de Twin Peaks, Dune e deste Blue Velvet. MacLachlan é tão perverso quanto os vilões de Lynch e tão inocente quanto as suas vítimas (e vice-versa, muito vice-versa).
Brad Douriff é um segredo mal guardado. Mal guardado porque não devia estar guardado (nem devia ser segredo sequer). Os espectadores reconhecem-no de One Flew Over the Cuckoo’s Nest, ou talvez de The Exorcist III, uns happy few de Deadwood (a série que toda a gente se esquece quando está a enumerar as melhores de sempre), mais uns quantos de Lord of the Rings. Mas quem sabe o seu nome? Ou que emprestou a voz a Chucky, o boneco assassino de Child’s Play?
Só falta Laura Dern, outra cine-filha de renome (Bruce Dern e Diane Ladd). Mas ela, muito nova e muito loura, não pertence à escuridão de Blue Velvet.
Now it’s dark
No final da sequência, quando o holofote se apaga, Dennis Hopper grita para a câmara «I’ll fuck anything that moves» e desaparece, como por magia, dissolvendo-se nos traços amarelos das auto-estradas perdidas da América.
Um-dois-três
Trash Yéyé, de Benjamin Biolay
Lembro-me de pôr «Laisse Aboyer Les Chiens» a tocar incessantemente.
Foi uma das minhas inúmeras paixões musicais, fugazes e intensas. Quando passamos por elas, parecem-nos únicas e irrepetíveis, mesmo que durem um dia ou dois.
Entre 2007 e 2008, interessei-me pela pop francesa que se ia fazendo: Vincent Delerm (muito literato), as canções de Alex Beaupain para Les chansons d’amour (um filme que não tenciono rever, para não estragar as boas recordações); este Benjamin Biolay (mais rock do que pop); e ainda Sébastien Tellier, que apareceu num carrinho de criança no Festival da Eurovisão.
Naturalmente, acabei por passar para outra, já não me lembro qual. Voltei este ano, à boleia da minha mais recente paixão musical: Étienne Daho (continuo maravilhado com o magnífico Pop Satori).
Apeteceu-me voltar a Delerm e Biolay. E se ouvi a música do primeiro com gosto (Kensington Square continua muito bom), foi o segundo que me cativou.
Já tentei ouvir outros álbuns de Benjamin Biolay, incluindo o que tem a canção com Chiara Mastroianni, com quem foi casado. No último Saint Clair, encontrei-o ainda mais rockeiro. Mas o primeiro amor é mais forte.
Dou por mim a regressar a Trash Yéyé uma e outra vez. Percebo mal francês (se é que percebo), mas deleito-me a ouvir «De Beaux Souvenirs» e o verso «1, 2, 3-0 pour la France», que assumo referir-se à final do Mundial de 98 em Paris (eu adorava o Zidane).
Agrada-me a vulnerabilidade de Biolay, a fragilidade das letras, a voz rouca, as guitarras agrestes, mas sonhadoras (há um cheirinho de shoegaze, talvez).
Trash Yéyé é uma excelente companhia.
Perplexing Plots, de David Bordwell
David Bordwell dava aulas de cinema e assinou vários livros mais ou menos didácticos. Mas escrevia como um verdadeiro apaixonado. Era mais cinéfilo do que académico.
Diria que influenciou mais cineastas do que outros professores. Acho que foi a pessoa que me fez gostar realmente de filmes mudos. A sua admiração por Louis Feuillade e pelos serials que o francês realizou era contagiante (a mim, apanhou-me).
Quando a Beatriz me ofereceu Perplexing Plots, estava à espera de mais um livro dedicado ao cinema. Percebi pela contracapa que talvez falasse um pouco de literatura policial, mas contava que depois passasse para as adaptações cinematográficas. Que versasse sobre o film noir, até porque tem a Gene Tierney na capa com uma caçadeira na mão (fotograma do onírico Laura, de Otto Preminger).
Fui bem enganado. Perplexing Plots debruça-se quase exclusivamente sobre livros de detectives e os seus autores: Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Agatha Christie, Patricia Highsmith.
Para quem, como eu, se interessa pela literatura policial, mas não é um conhecedor profundo, foi uma óptima introdução à história da dita. Bordwell traça a genealogia desde a Golden Age dos whodunit aos romances abstractos de Richard Stark, passando pelos durões do género hard-boiled.
A intenção nem era essa. O autor pretendia tão-só descobrir a influência da literatura modernista na arte mais popular — as experiências dos grandes escritores (Virginia Woolf, William Faulkner) passaram a ser truques de autores «menores» (Hammett, Highsmith). Mas Bordwell consegue uma coisa e a outra.
Entretanto, fiquei cheio de vontade de ler o já referido Stark e Rex Stout. Esta era a grande qualidade de Bordwell: fazia-nos querer ver e ler, reencontrar o seu olhar na arte dos outros.
Golden Eighties, de Chantal Akerman
Tenho uma confissão a fazer: nunca vi Jeanne Dielman. Para um cinéfilo, uma falha que se agravou depois de o filme ter sido declarado o «melhor de sempre» pela revista Sight & Sound, em 2022.
E, no entanto, adoro alguns filmes de Chantal Akerman. Quase todos os que vi, na verdade. A belga foi a minha cineasta da pandemia, do primeiro confinamento. Fez-me companhia nalgumas noites mais preocupadas, mais tensas.
Nuit et jour, Demain on déménage, Portrait d’une jeune fille de la fin des années 60 à Bruxelles, até Un divan à New York, a tentativa de fazer cinema de autor para todos. Dir-se-ia que são os seus filmes mais leves, mais airosos. (Embora também goste dos experimentais Toute une nuit, News from Home e No Home Movie.)
Mas há poucos filmes mais leves e airosos quanto Golden Eighties.
A acção decorre dentro do centro comercial mais anos 80 de sempre (Akerman já está a parodiar as imagens de marca da década ainda esta ia a meio, através do seu não-lugar primordial).
Há o cabeleireiro ali, o pronto-a-vestir acolá, as salas de cinema naquele recanto. E o cafézinho, no meio, onde todos se encontram. Há casais trocados, amores não-correspondidos, reencontros de amantes de antigamente. E todos cantam e dançam, como num musical de Jacques Demy.
De resto, Golden Eighties ecoa as suas referências por todos os lados. Akerman filma como se fosse Demy a refazer Renoir, de Musset e Beaumarchais (La règle du jeu).
Mas a cineasta belga não era macaquinho-de-imitação. Assimilava um olhar, uma maneira de filmar e divertia-se a recriá-los, por vezes com mais sucesso do que o original.
Não fosse Les parapluies de Cherbourg e diria que Golden Eighties é melhor do que qualquer musical de Demy. No mínimo, ombreia com eles.
Ao que parece, Golden Eighties vai estar disponível na plataforma da Filmin. Vejam quando puderem. Não se vão arrepender.
Uma pitada de auto-promoção
«We are the same», diz Dennis Hopper a Kyle MacLachlan em Blue Velvet. De facto, gostamos todos de escuro, de sonhos. E de violência. (De cinema, no fundo.)
Aqui há uns anos, fiz um vídeo-ensaio à volta de Notorious. Pegando num momento em que Cary Grant esbofeteia Ingrid Bergman, tentei fazer do actor o vilão da história, o agressor do qual mal vemos a cara. Acrescentei uma fala da filha de Bergman no filme de Lynch — «Hit me!», diz Isabella Rossellini a MacLachlan — e desacelerei as imagens até atingir o unheimlich pretendido.
Diria que as intenções são mais interessantes do que o resultado. Mas deixo-o aqui para o poderem julgar.
Por hoje é tudo. Tenham uma boa semana.
Fiquei para sempre com a ideia de que a personagem de Henry Fonda em Once Upon a Time in the West também se chama Frank Booth. Chama-se apenas Frank. Não faço ideia se isto quer dizer alguma coisa.