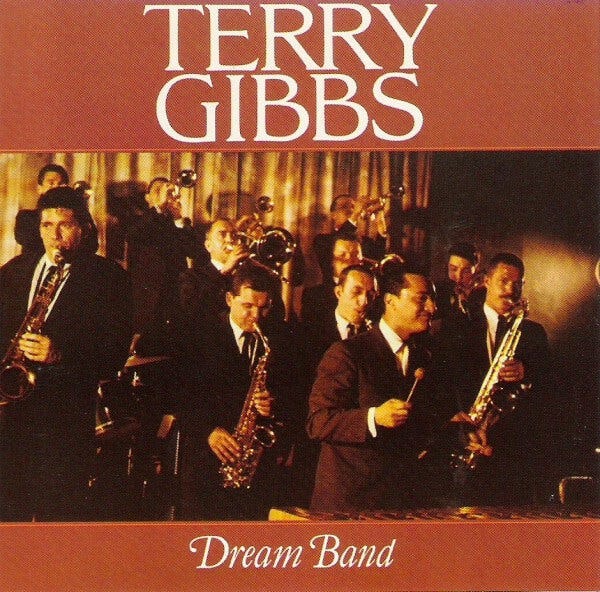Rogério Casanova e os chalupas de Dealey Plaza
O cronista do Público fala do fascínio pelo assassinato de JFK e pelos «leigos solitários» que dedicaram a vida a estudá-lo
Voltamos às entrevistas. Esta semana convidei Rogério Casanova — autor das imperdíveis crónicas de domingo no Público e da Pastoral Portuguesa, o melhor blogue português; também foi crítico literário na revista Ler e no Expresso e tem dois livros publicados: Pastoral Portuguesa, antologia de textos do blogue, e Trabalhos de Casa, compilação de crónicas e críticas (a que dei apenas três estrelas quando saiu, vá-se lá saber porquê) — para falar de um dos seus temas preferidos: o assassinato de John Fitzgerald Kennedy, perpetrado por Lee Harvey Oswald (ou não) em 22 de novembro de 1963, e as teorias da conspiração que gerou.
Esta edição do Diga-se de Passagem é feita para quem os seguintes termos dão uma descarga de dopamina: J. D. Tippit, Dealey Plaza, Texas School Book Depository, Jack Ruby, John Connally, comissão Warren, Grassy Knoll, single bullet theory. Ou seja, para mim.

As obsessões que nos encontram
De onde vem o teu fascínio pelo assassinato do Kennedy?
Foi por etapas. A primeira foi evidentemente o filme do Oliver Stone, como deve ter sido para muita gente. A maioria dos nossos gostos encontra-nos. O gosto que tenho por um certo tipo de filmes foi formatado por acidente. Quando a minha avó me comprou o meu primeiro vídeo, vinha com três cassetes VHS. Uma delas era de um filme que ainda hoje adoro, o The Right Stuff [de Philip Kaufman]. Determinou o meu gosto por filmes grandes, com a mitologia americana toda num formato quase camp. Com excesso atrás de excesso, algum deliberado, outro que parece acidental. Aluguei o JFK no clube de vídeo, porque reconheci o nome do Oliver Stone e de alguns actores. Acho que tinha catorze ou quinze anos. Vi que o filme tinha três horas. [Risos.] Mesmo com aquela idade, fiquei mais fascinado com o que o filme era e pela maneira como foi filmado do que propriamente com o tema. Isso vem mais tarde. E aí sou, como muita gente, um refém daquilo que nos encontra na Internet. Tu tens que idade, desculpa?
44.
Tens a mesma idade que eu. E começaste a usar a Internet com que idade, só por curiosidade?
Dezoito, dezanove.
Foi como eu. Ali em 1998, 1999. Era uma Internet muito diferente. Quando procuravas assuntos no Google, era muito mais restrito do que é hoje, tinhas quatro páginas de resultados. Com duas excepções, pelo menos entre aqueles que procurei: sites dedicados à obra do Thomas Pynchon e sites dedicados a conspirações sobre o assassinato do Kennedy. O que começa a ter interesse para mim não é o tema em si, são as pessoas que têm uma dedicação monomaníaca ao tema. Em 2001, descobri um livro — também por acidente, engracei com a capa na livraria — de um jornalista americano chamado Ron Rosenbaum. Era uma compilação de carreira [The Secret Parts of Fortune], uma colectânea de artigos e reportagens. A maior peça desse livro — tem quarenta e tal páginas — é sobre o assassinato do Kennedy. Não propriamente sobre o assassinato, mas sobre os buffs, como ele lhe chama, as pessoas que dedicaram uma vida inteira a investigá-lo. O artigo cristalizou mais ou menos a natureza do meu interesse pelo tema.
Não te interessa minimamente desvendar o mistério?
Interessou durante três ou quatro meses, talvez mais. Atenção, não estou a menorizar o meu interesse objectivo pelos pormenores do assassinato. Eu li o relatório Warren quase todo, só não li os apêndices com as transcrições completas dos depoimentos. Mas o relatório faz uma cronologia completa das 24 horas do Oswald no dia do assassinato, o que achei interessantíssimo. Uma das conclusões a que chegas a dada altura… Duas, aliás. Primeira: não vais chegar à verdade a ler coisas na Internet sozinho em casa. Vários milhares de pessoas já o tentaram e não conseguiram. Segunda: mesmo que te convencesses a ti próprio de que determinada teoria corresponde à verdade, o que é que ganhavas com isso? É uma coisa só para ti, não vais convencer ninguém… Se queres mesmo saber, a conclusão que mais me satisfez... Não há nenhuma, nem a versão oficial, nem as milhentas explicações alternativas, que não tenha elementos que não te obriguem a pensar «isto não faz sentido, é uma coincidência mirabolante, é impossível ser verdade». Mas a versão oficial, nos seus moldes básicos — quem disparou os tiros foi aquele gajo naquele sítio —, provavelmente é a correcta. Fiquei muito triste quando cheguei a essa conclusão.
As pessoas acabam por chegar a essa conclusão. Quer dizer, nem todas.
Porque há montes de merdas que, de facto, não encaixam. Uma das coisas mais interessantes sobre este caso é a quantidade de provas que há. Devia ter sido o primeiro sinal de alerta para aquilo que depois foi a era digital, a era da Internet: a mera acumulação de informação não serve para chegar à verdade e muito menos para convencer as pessoas do que quer que seja.
Tens um texto a dizer isso: é dos crimes mais documentados.
Havia três gajos com câmaras… Não, há quatro filmes. O do [Abraham] Zapruder é aquele que apanha mais, mas há outros dois que captam pelo menos um dos tiros. E há um, de um gajo que só conheço o nome, porque se chamava Charles Bronson, que também apanha o tiro fatal. Há dezenas e dezenas de fotografias, há centenas de testemunhas, há gravações de som, de polícias que iam na comitiva. Não há nenhuma dessas provas materiais, audiovisuais, nenhum desses testemunhos, que não tenham servido num ou noutro momento não para esclarecer mas para lançar mais ambiguidade sobre o caso. Todos eles, é impressionante.
Leigos solitários
Quando dizes que te interessas pelos monomaníacos, a que te referes?
Basta veres o JFK ou pelo menos algumas entrevistas ao Oliver Stone na altura para ficares com a ideia de que há um mundo subterrâneo composto por pessoas que levam o assassinato muito a sério, que lhe dedicaram a vida inteira. Os leigos solitários, que tentavam aplicar os instrumentos da sua profissão para resolver o caso, e os outros que iam aprender e quase se sub-especializavam numa disciplina qualquer. Foi sempre por eles que tive mais carinho. O Ron Rosenbaum tem uma macro-teoria para explicá-los, diz que é uma maneira de fazerem luto. Não sei se me convence totalmente. Uma coisa que foi acontecendo às teorias da conspiração é que hoje parecem menos inofensivas do que pareciam nessa altura. Os obcecados não estavam de facto a incomodar ninguém, a não ser provavelmente os familiares que queriam que eles saíssem da cave de vez em quando e largassem os gráficos e os modelos à escala. Quando essas pessoas se encontram é que começam os problemas. Enquanto as pessoas estão mais ou menos isoladas, é relativamente inofensivo. Falarem umas com as outras é sempre um erro. [Risos.] Corre sempre mal. Evidentemente, não é só o facto de conversarem e descobrirem o que têm em comum, é começarem a aplicar um cepticismo salutar — duvidar de algumas verdades oficiais, especialmente quando são sancionadas pelo Estado — a tudo, automaticamente.
Interessas-te por todas as teorias da conspiração ou apenas neste sentido de apreço pelos obcecados?
Uma das coisas interessantes e trágicas que aconteceram às teorias da conspiração nos últimos anos... Sempre que vejo alguém a fazer este exercício de explicar uma dinâmica qualquer com uma única causa, 80% das vezes digo «isto não é bem assim»... Portanto, estou a sabotar preventivamente o que vou dizer, mas acho que uma das coisas que aconteceram às teorias da conspiração é que se afunilaram, ao contrário da explicação padrão que diz que antigamente era um interesse especializado e que por causa da Internet houve uma explosão. O que a Internet fez é o que a Internet costuma fazer, especialmente na era das redes sociais: transformar tudo em duas equipas e em escolhas binárias. Hoje a maioria das conspirações é mais reduzida. Eu achava piada àquelas mais fora, mais criativas, e que... Quando digo que gostava, gostava do tipo de pessoas que as seguiam e de tentar perceber o que é que as levava para aquilo. Gostava daquelas que acabavam a questionar a estrutura inteira da realidade. Gosto muito da que diz que todo o período medieval é uma invenção. Há outras que dizem que o sol não existe. Por serem interesses de nicho e coisas obviamente absurdas para a maioria das pessoas, era mais interessante ver essas comunidades a discutir na Internet do que teres agora um número exponencial de pessoas a dizer «não, as vacinas matam-nos».
Potencialmente, são mais perigosas.
São mais perigosas, mas sobretudo são mais aborrecidas. Numa perspectiva de crítico, dou menos estrelas a essas.
Não li o Oswald’s Tale do Norman Mailer, mas o 22/11/63 do Stephen King tem como epígrafe uma frase desse livro: «It is virtually not assimilable to our reason that a small lonely man felled a giant in the midst of his limousines, his legions, his throng, and his security.»
O livro do Norman Mailer é todo ele dedicado a tentar fazer uma avaliação de base psicológica para explicar o cepticismo colectivo em relação à explicação oficial. E a resposta que encontra é que a maioria das pessoas se recusa a acreditar que uma pessoa tão inconsequente tenha tido um gesto tão consequente. Não sei, não é caso único na História. Já agora, há um contra-argumento engraçado. O Martin Amis fez uma crítica ao livro e a dada altura diz... Não elabora muito, fiquei sempre com pena, é só assim uma tangente num paragrafozinho, em que ele se interroga: «Terá sido assim tão consequente?» E diz que o que Oswald fez foi mudar o nome de um aeroporto violentamente [o antigo Idlewild em Nova Iorque passou a chamar-se John F. Kennedy International Airport]. Seis meses antes da estreia do filme do Oliver Stone, houve editoriais quase semanais nos jornais de referência a dizer que aquilo era uma vergonha, que ele estava a ser irresponsável. Um dos principais cavalos de batalha contra a tese que o filme defende... Devíamos falar disto, a tese que o filme defende é extremamente engraçada: o Kennedy foi morto por uma cabala de homossexuais.
É uma grande misturada.
Nas duas grandes explicações finais, a do Donald Sutherland [que interpreta L. Fletcher Prouty, ou Mr. X, como lhe chamam no filme] e depois a do Kevin Costner no tribunal, toda a gente está incluída. Quase não há nenhum inocente. A explicação do Oliver Stone e de uma certa corrente do liberalismo americano até para aí aos anos 90 era que o Kennedy representava uma ameaça ao complexo militar-industrial, queria acabar com a Guerra no Vietname, ou não a queria desenvolver. E há uma corrente da historiografia que diz exactamente o contrário. Provavelmente a História da América em termos de política interna podia ter sido diferente para pior, porque muitas das medidas do Lyndon Johnson fizeram-se às cavalitas da boa-vontade, e em termos de política externa provavelmente muito pouca coisa seria diferente. Evidentemente não sei o suficiente sobre isso… Uma das coisas que o Norman Mailer tenta fazer com resultados previsivelmente hilariantes é transformar o Oswald numa personagem interiormente interessante, que não é. Por tudo aquilo que sabemos sobre o Oswald na primeira pessoa, ele a falar, as coisas que deixou escritas. Mas a vida dele é. A vida dele é extremamente anómala.
Vai para a Rússia.
Há ali uma fracçãozinha de Zelig, ele esteve numa data de pontos-chave. Estava na base de onde saíram os aviões U-2, por exemplo, quando era muito novo. Depois teve aquela ida para a Rússia e o regresso, que é das coisas que na versão oficial não fazem sentido. Mas todas elas podem ser explicadas por incompetência e inércia institucional. Que é o que mais acontece. Aliás, voltando um bocadinho atrás, quando me perguntaste aquilo em que eu acreditava… Acho que uma das explicações mais plausíveis para as anomalias na versão oficial é ter havido montes de manobras pós-assassinato para encobrir e manipular certas partes da investigação, mesmo não tendo existido qualquer conspiração institucional para assassinar o presidente. Parece-me mais ou menos plausível que numa organização com a estrutura da CIA muita gente tenha entrado em pânico e pensado «será que fomos nós?». [Risos.] «É melhor começarmos a encobrir coisas, nunca se sabe.»
A profissão mais perigosa do mundo
Voltando à citação do Mailer, se calhar a questão nem é a de ser o homem pequeno a derrubar o homem grande. A dificuldade de compreensão tem que ver com falta de motivo. Pode ter sido como este gajo que tentou matar o Trump.
Alguma vez leste sobre os homens que mataram ou tentaram matar presidentes dos EUA?… Já agora, ser presidente é uma profissão de alto risco. Havia montes de tweets — o Twitter é onde passo grande parte da minha vida na Internet agora — a dizer que o Trump era corajoso por causa da pose que fez, o que é obviamente um disparate. Havia outros a dizer não era nada corajoso, fugiu à Guerra do Vietname, arranjou falsos atestados para não ir. Por acaso estive a fazer contas — o meu único propósito era fazer uma piada — e o rácio entre o total de soldados americanos que combateram no Vietname e aqueles que foram feridos ou mortos é menor do que o rácio entre o total de pessoas que se candidataram a presidente dos EUA e os que levaram um tiro. Ou seja, é mais perigoso candidatares-te à presidência do que seres soldado no Vietname. [Aqui está o tweet com as contas.]
Ainda há as tentativas, o Reagan...
Era aí que ia chegar. Se fores ler as respostas das pessoas que alvejaram presidentes dos EUA ou candidatos quando lhes perguntam os motivos, é uma carambola de coisas ridículas e absurdas e non sequiturs e coisas que não fazem o mínimo sentido. Um deles era um imigrante italiano que disse que se sentia mal do estômago e por isso deu um tiro no Presidente. Houve um que disse que o Governo lhe devia dinheiro. Quando estava a dizer que a vida do Oswald é mais interessante do que a pessoa, pelo menos como o cidadão Oswald se conseguia exprimir, referia-me à falta de uma explicação interessante para qualquer das suas acções. Porque é que foi para a Rússia? Disse quatro coisas diferentes. Porque é que andava lá a distribuir folhetos anti-Castro e depois pró-Castro em Nova Orleães? Deu quinze explicações diferentes, nenhuma delas interessante. Há uma entrevista ao Oswald numa televisão local do Louisiana, feita no Verão anterior ao assassinato. O entrevistador pergunta-lhe «mas você é comunista?» e o Oswald muito calmamente «não, não sou comunista, sou marxista-leninista. Há uma diferença», e depois explica a diferença. Toda a entrevista é assim. O gajo não era um burro completo, mas era uma pessoa claramente a tentar colar a cuspo alguma coisa coerente em que acreditar. Se não tivesse sido morto, garanto que não ia dar nenhuma explicação satisfatória e coerente.
Deve ser dos poucos, se foi mesmo ele, que não confessou.
Na catadupa e na diversidade de teorias, uma das que mais gostei é a de que não, o Oswald não matou o Kennedy, nem sequer estava lá, mas foi ele que matou o polícia [segundo a versão oficial, Oswald matou o agente J. D. Tippit, antes de ser apanhado pela polícia no Texas Theater, o cinema onde se foi esconder]. Ri-me imenso quando encontrei essa, já foi uma descoberta tardia.
Enquanto ficção, uma teoria da conspiração pode ser tão interessante como um livro?
Não sei se consigo bem responder a essa pergunta, porque na minha cabeça são duas coisas bastante ligadas… Eu interesso-me por teorias da conspiração mais ou menos quando começo a ler muito aquela corrente de ficção americana, de uma geração de escritores que cresceu nesse período e escreveu muito sobre essas teorias. Cheguei ao Pynchon um bocadinho antes… Mas depois há montes de livros directa ou indirectamente sobre o assassinato do Kennedy. Fui ler todos. O prazer que se tira do Libra [de Don DeLillo] ou do Harlot's Ghost [de Norman Mailer] é diferente de estar a ler fóruns na Internet, mas deve ter elementos em comum. Li conversas em fóruns — alguns deles de certeza que já nem existem — com a mesma satisfação que retirava de alguns desses livros. Os romances sobre o assassinato do Kennedy não são sobre os obcecados com conspirações, são mesmo sobre o caso em si. Portanto, estava a tirar satisfação de sítios diferentes… Não quero estar a fazer analogias demasiado rebuscadas, mas a admiração que tenho pelos obcecados é idêntica à que tenho por qualquer pessoa que se dedique a um trabalho minucioso sem qualquer efeito prático, como aqueles que se ocupam dos pormenores no topo de uma catedral. Demora imenso tempo e cuidado a fazer e poucas pessoas reparam ou vêem. Há uma série que provavelmente é o ex-libris dos documentários sobre o assassinato do Kennedy, realizada pela ITV no 25.º aniversário, portanto em 1988. Chama-se The Men Who Killed Kennedy. A melhor parte é quando aparece um dos tais leigos. Antes da Internet, antes disto tudo, o gajo reuniu todas as fotografias da autópsia do Kennedy que conseguiu encontrar e construiu modelos das feridas por dentro, passou meses naquilo. Só para provar a discrepância entre as estrias da bala, a trajectória, as feridas. Alguns anos depois chega um gajo com um computador e diz «não, não, tudo normal». É triste.
Ao menos, divertiu-se.
São columbófilos ou filatelistas. É isso, no fundo, o que estas pessoas são.
A paranóia
Num artigo teu sobre o Room 237 [filme sobre teorias rocambolescas acerca de The Shining, de Stanley Kubrick], escreves que aquelas conspirações são quase uma paródia da crítica. Há alguma correlação entre a crítica e as teorias da conspiração?
Há uma série de actividades que… Não diria que estimulem a paranóia, mas que a redução ao absurdo das suas práticas naturais é a paranóia. Uma delas é a espionagem. A crítica literária, a crítica no geral, também. O risco da interpretação é estares a ver coisas onde elas não existem. É pegares em coisas que são mera coincidência e estares a ver intenção ou uma ligação que não foi intencional… Havia um gajo que era o chefe de contra-espionagem da CIA, o James Jesus Angleton… Já ouviste falar?
Sim, num artigo que escreveste.
Eu já escrevi sobre o Angleton?
Há uns anos.
Ó diabo… Bem, ele era chefe de contra-espionagem da CIA nos anos 60 e 70. Foi enganado pelo Kim Philby, seu amigo e em quem confiava muito. Foi apanhado com as calças na mão quando se soube que o Kim Philby era traidor e agente duplo. Mexeu-lhe com a cabeça. Fez uma razia interna na CIA, ia desfazendo aquilo em pedaços. Começou a fazer caças às bruxas constantes, a partir do princípio de que qualquer pessoa era uma possível ameaça. Há um biografia muito boa sobre ele [The Ghost, de Jefferson Morley]. É uma figura fascinante e a coisa menos surpreendente dessa biografia é que o gajo começou por ser um estudante de Letras e tem uma tese sobre o T. S. Eliot.
Gostas dos filmes de paranóia, o Three Days of the Condor, o The Parallax View, etc.?
Como é óbvio. Vi-os todos com muito amor, revejo muitos deles regularmente. Uma das coisas que acho interessantes nesse tipo de filmes e que se mantém até ao JFK do Oliver Stone e hoje em dia parece mais pitoresco do que na altura... Lembras-te do final do Three Days of the Condor? É o Robert Redford prestes a entrar na sede de um jornal. É um final feliz. Vai correr tudo bem. Qual é a premissa objectiva do JFK? Um dia a verdade vai saber-se e vai mudar tudo. Apesar de serem filmes muito dark e com uma carga muito pessimista, esse optimismo parece quase anacrónico, patusco.
Mas há uns mais pessimistas… Há um filme com o Jeff Bridges, o Arlington Road.
Esse é já anos 90, com o Tim Robbins.
O protagonista provoca aquilo que quer impedir.
Que é outra teoria que várias pessoas defendiam sobre o Oswald: ele não era só um patsy, tentou activamente impedir o assassinato, era amigo do Kennedy. [Risos.] E o Winter Kills, viste?
Já não sei se vi ou não. Comecei a ver, disso tenho a certeza, mas não sei se acabei. Tenho um problema com sátiras.
O filme é muito divertido. É demasiado confuso para ser considerado só sátira. Há ali uma mistura de tons... Todos os filmes a partir do meio da década de 70 que encontram um papel para o John Huston se estar a divertir mais do que alguma vez se divertiu na vida são bons. Ele interpreta mais ou menos o mesmo papel que faz em Chinatown, o patriarca que está muito divertido com a sua própria vileza. E é provavelmente o melhor do filme.
Breves impressões
No existen treinta y seis maneras de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo, de Nicolás Zukerfeld
Cheguei ao filme-ensaio de Nicolás Zukerfeld através do Disco Duro, o blogue no qual o crítico de cinema Luís Miguel Oliveira deposita textos antigos.
No texto, Oliveira alude a um erro que apanhou em No existen treinta y seis maneras de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo. Quando lhe perguntei qual era, já não se lembrava. Mas lá acabou por se recordar: o catálogo sobre D. W. Griffith da Cinemateca Portuguesa, coordenado por si e por Maria João Madeira, foi atribuído a outra pessoa.
O que poderia espoletar novo filme, uma sequela de No existen treinta y seis maneras, pois este é precisamente sobre «telefones estragados» ou como uma informação errada (ou melhor, inexacta) é passada de citação em citação em textos críticos e académicos.
Na segunda parte de No existen treinta y seis maneras (o lado B), Zukerfeld vai em busca da origem da frase de Raoul Walsh que dá título ao filme e que lhe apareceu citada por Edgardo Cozarinsky. Bem tenta falar com o cineasta e crítico argentino (que morreu este ano). Sem sucesso. Vai descobrindo versões, aproximações e deturpações, mas nunca a frase ipsis verbis.
Possivelmente, Walsh nunca a proferiu assim. Terá dito qualquer coisa como «não há mais do que uma maneira de filmar uma pessoa a entrar por uma porta».
Alguém multiplicou as maneiras e acrescentou os cavalos, pelo que Nicolás Zukerfeld, na primeira parte do filme (o lado A), se diverte a fazer uma montagem de meia-hora com todas as cenas (ou quase) da obra de Raoul Walsh em que alguém sobe para um cavalo e entra (ou sai) por uma porta. E são bem mais de trinta e seis.
Dream Band, de Terry Gibbs
Não sei a diferença entre um xilofone e um vibrafone, se é que existe. Tenho a vaga ideia de que os miúdos chamam martelinhos a qualquer deles, mas devo estar a inventar — não encontrei nenhuma referência a isso na Internet.
De qualquer forma, revela o preconceito que tenho em relação ao instrumento. Não me parece sério — como o trompete, o saxofone, o piano, a bateria, o contrabaixo —, antes um brinquedo pífio, pouco melodioso.
Claro que basta ouvir «Bag’s Groove», composto e tocado pelo vibrafonista Milt Jackson, para desfazer essa ideia (nem é preciso ouvir a versão com Miles Davis e Thelonious Monk).
Apesar de ser uma figura reconhecida no meio, não fazia ideia de quem era Terry Gibbs (outro vibrafonista do jazz, que, em Outubro, fez 100 anos) até ler este artigo de Ted Gioia. O que é normal: estou longe de ser um especialista, conheço os músicos mais óbvios.
E provavelmente teria esquecido o nome depressa, não tivesse seguido o conselho de Gioia e ouvido as gravações da Dream Band.
Gibbs formou uma big band quando estas já estavam a passar de moda e só os Dukes e os Counts é que conseguiam manter as suas. Durante um Verão, ele e a Dream Band tocaram nalgumas salas de Los Angeles.
Quem os via ficava deliciado. Mas a banda custava mais dinheiro do que dava a ganhar. Por muito que os músicos gostassem de a integrar, não era sustentável. Terry Gibbs pediu para lhe gravarem alguns concertos para poder ouvi-los depois. Não tinha a posteridade em vista. Nem tinha a intenção de os lançar em disco.
Mas em boa hora o fez. Nos anos 80 foram editados três álbuns com prestações da Dream Band. Ouvi apenas os primeiros dois (porque só agora percebi que havia um terceiro; sou distraído e sortudo).
Em todos os momentos, músicos e espectadores parecem estar a divertir-se imenso, ouvem-se gritos de entusiasmo. A música é buliçosa, efusiva, dir-se-ia feliz. Imagina-se toda a gente a dançar, sentindo-se afortunada por estar ali.
Se existe feel-good music, é esta.
No primeiro volume, ouve-se a Dream Band a tocar no The Seville, em Los Angeles:
O segundo e o terceiro também estão no Spotify.
Duas sugestões (e meia auto-promoção)
«Histórias do Cinema»: Art Theatre Guild, por Miguel Patrício
Nas «Histórias do Cinema» da Cinemateca Portuguesa, um crítico ou investigador de cinema (normalmente estrangeiro) toma a sala Luís de Pina (a mais pequena) durante uma semana, apresentando um ciclo de cinco filmes escolhidos por si. (Recordo com carinho as «Histórias» de Miguel Marías sobre Jacques Tourneur em 2015, quando vi pela primeira vez Berlin Express.)
Para a semana, cabe ao portuguesíssimo Miguel Patrício, «provavelmente um dos maiores especialistas de cinema japonês da actualidade» (e não sou eu que o digo, é a página da Cinemateca), falar sobre cinco filmes da Art Theatre Guild, produtora e distribuidora japonesa que o próprio Patrício descreve bastante bem no texto de apresentação do ciclo.
Imperdível, tal como costumam ser os «Mestres Japoneses Desconhecidos» — co-programados por Miguel Patrício —, que terão a quarta edição para o ano.
O Cinema das Palavras: Entrevistas À pala de Walsh
Isto é auto-promoção, mas muito poucochinho, que esta segunda edição do À pala de Walsh se tem dedo meu é o mindinho: ajudei a entrevistar os irmãos Safdie e João Rui Guerra da Mata (não foi ao mesmo tempo) e participei numa conversa sobre Visita ou Memórias e Confissões de Manoel de Oliveira.
O Cinema das Palavras, planeado há anos, logo depois da publicação de O Cinema Não Morreu em 2017, tem muitas mais entrevistas. A Apichatpong Weerasethakul, Ryûsuke Hamaguchi, Mia Hansen-Løve, Miguel Gomes, Vasco Pimentel, Rita Azevedo Gomes, Adrian Martin ou Alain Bergala.
O lançamento está agendado para o próximo sábado, dia 30 de novembro, na Linha de Sombra, a livraria da Cinemateca (e editora do livro), às 17h30, e contará com a presença dos editores do À pala de Walsh e de Pedro Mexia, que prefaciou O Cinema das Palavras.
Por hoje é tudo. As palavras são minhas (e, esta semana, do Rogério Casanova). A revisão é da Beatriz Marques Morais. Espero que tenham uma boa semana. Até ao próximo domingo.