Luís Miguel Oliveira, o fanático dos popós
O crítico de cinema do jornal Público e programador da Cinemateca Portuguesa professa o seu amor pelas corridas de carros, em especial pela F1
Esta semana, inicio uma experiência (que, se tudo correr bem, se repetirá no último domingo de cada mês) — em vez da crónica/crítica/ensaio habitual, entrevisto alguém que admiro. O primeiro escolhido é Luís Miguel Oliveira, o melhor crítico de cinema (não é português, é ponto final). Mas em vez de ser uma daquelas entrevistas de vida, sobre tudo e mais alguma coisa, limitei-a a um tema, muito caro ao entrevistado: as corridas de carros. Falámos de Niki Lauda, dos filmes que não sabem retratar o desporto automóvel, das excepções de Ron Howard e da proximidade dos condutores de F1 com a morte.
O primeiro amor
De onde vem a tua paixão pela Fórmula 1?
Foi o Grande Prémio do Mónaco de 75. Tinha quatro anos e meio. Tem de ter sido em 75, porque se fosse em 76, já não estava na casa da minha recordação. Lembro-me perfeitamente de ficar agarrado à televisão e de ter ficado todo contente por ter ganhado o Niki Lauda, de quem nunca tinha ouvido falar. Para mim, era uma coisa tipo Transformers. O Niki Lauda era aquele conjunto, não era um carro e uma pessoa, era uma entidade em si mesma. A partir daí, comecei a ver as corridas, obrigava a família toda a ver. Acho que não falhei uma entre o final dos anos 70 e o final dos anos 90, em que comecei a falhar mais. Já não me interessava da mesma maneira. Interessava-me, mas já não tinha a mesma febre. Foi na altura que a F1 começou a desaparecer dos canais generalistas... Mas antes, acordava às seis da manhã para ver as corridas no Japão e na Austrália ou não me deitava sequer.
Agora é o mesmo piloto que ganha há não sei quantos anos.
O [Max] Verstappen. É uma tendência infeliz da F1, e acontece cada vez mais, a dos períodos longos de domínio. Por exemplo, os Lotus de 78, ninguém os apanhava, mas em 79 estavam no meio do pelotão. Era tudo completamente diferente. Não havia a alta precisão tecnológica que há hoje. As regras eram bem mais vagas. Havia muito mais espaço para a invenção e para coisas fora da caixa. Os carros eram muito diferentes entre si. Cada carro era uma proposta diferente. O Bernie Ecclestone revolucionou isso tudo, percebeu o potencial comercial da F1. Até aos anos 70, os carros quase não tinham patrocínios. Tinham pinturas lisas, quando muito logótipos de marcas de pneus ou de marcas de lubrificantes. O sucesso da F1 na televisão começa a tornar-se apetecível comercialmente para patrocinadores e depois até para construtores. Essa é a grande transformação, quando deixa de ser uma coisa de garagistas, em que qualquer um com conhecimentos de mecânica podia fazer um carro de F1. Não quer dizer que fosse muito bom, mas podia concorrer. Era uma questão de engenho.
Eras [Alain] Prost ou [Ayrton] Senna?
Era mais Senna do que Prost, mas a minha posição já era quase jornalística, antropológica, como o David Attenborough. Vibrava, mas não era tanto a coisa partidária. Havia pilotos que eu gostava mais do que outros, mas nunca vi na perspectiva do fã. Gostava do espectáculo no seu todo. Gostava dos duelos.
Havia muita rivalidade.
Sim, mas a reacção dos fãs não era como é hoje, sobretudo depois do Drive to Survive, a série da Netflix. Houve muitas rivalidades na F1, mas existia um tipo de respeito contrário à cultura moderna do fanboy, que faz lembrar o que acontece no futebol, com o Ronaldo-Messi. Não consegues ter uma discussão Ronaldo-Messi sem que um seja o melhor do mundo e o outro seja uma merda. Não podem ser os dois bons.
Corridas no cinema
De que filmes de corridas é que gostas?
Por acaso, não há muitos. Sempre achei que os filmes que tentam representar as corridas de carros parecem sempre pouco realistas, muito romanceados. Há os falsos filmes de carros como o do [Howard] Hawks, o Red Line 7000, ou aquele mais antigo, o The Crowd Roars. O Red Line passa-se naquele ambiente, mas não é propriamente um filme de carros. Filmes de carros, há o Grand Prix, do [John] Frankenheimer, que não é um bom filme, mas tem um valor documental incrível, inexcedível. As cenas de corridas foram filmadas nos Grandes Prémios daquela época de 65, 66. Mais do que ser realista, é documental. Eles andaram a filmar misturados com o verdadeiro paddock. Aparece imensa gente e pilotos e técnicos em várias cenas. Depois há um filme que até é de um realizador que costumo achar desengraçado, mas que é óptimo e reconstitui muito bem o ambiente das corridas e até uma época precisa e histórica: o Rush, do Ron Howard. É a história do Niki Lauda na época de 76, no ano do acidente. As corridas são filmadas de uma maneira muito eficaz, bem feita. Analogicamente, sem excesso de adornos digitais. Funciona muito bem, melhor do que o filme do [James] Mangold sobre as 24 horas de Le Mans [Ford vs. Ferrari]. A questão é que a maior parte dos filmes sobre desporto não funciona bem porque confunde duas coisas: desporto e drama. O desporto pode ser interessante mesmo sem uma dramaturgia, quando não há histórias pessoais.
Há dramaturgia, nem que seja a própria corrida.
Sim. Exactamente. É isso. Tem a sua própria dramaturgia, não é preciso mais do que isso. E a tendência é para romancear e sublinhar. Exagerar.
As mulheres, a vida familiar.
O Rush resolve isso muito bem.

Chuta para canto.
Mas, quando aparece, faz sentido. Imagino perfeitamente as cenas do Niki Lauda com a mulher, com quem ele se casou naquele ano. Bate tudo certo com a personalidade. Eu já andava há anos a dizer que esta história dava um grande filme. O acidente, o regresso. Ele recebe a extrema-unção, toda a gente pensava que ele ia morrer, e três semanas depois está outra vez dentro de um carro, todo desfigurado, a esvair-se em sangue. E quando está a uma corrida de transformar esse sacrifício todo em mais um título de campeão, desiste voluntariamente, porque está a chover. Decide que há coisas que não valem a pena. É genial, essa história, é genial.
A F1 não é fácil de filmar.
Porque se não souberes o que se está a passar, não tens nenhuma maneira de comunicar. Se vires dois carros a fazer uma curva, um atrás do outro, e estiveres a seguir a corrida, consegues perceber o que é que está em causa, o que é que eles têm de fazer. Se têm de reduzir a velocidade, o que é que acontece aos pneus. É uma coisa quase invisível. Como é que consegues transmitir isto? Tens de fazer grandes planos do rosto, para se perceber que a curva é perigosa. Os actores têm de fazer caretas, com o suor a cair no rosto, uma coisa quase expressionista, quando a cara de um piloto de automóveis durante as corridas é o contrário disso. Deve ser a coisa menos expressiva que existe, eles são quase como uma máquina.
Até porque normalmente não tens acesso à cara. Só vês o capacete.
Tens esse cliché dos filmes de corridas de carros que é o grande plano dos olhos do piloto pela frincha do capacete. E a necessidade que há de fazer com que aquele olhar esteja a exprimir coisas. Quando normalmente o olhar de um piloto de F1, se for seguido durante uma corrida, não está a exprimir nada. Absolutamente nada. Na faculdade, tive um professor de Semiótica das Artes Visuais, que já morreu. Chamava-se Emídio Rosa de Oliveira. Gostava imenso de F1, ia ver as corridas, e às vezes falava disso nas aulas. Como um Cronenberg, a questão do homem-máquina, a ligação à máquina. Lembro-me de uma aula em que esteve imenso tempo a falar da F1 como exemplo da simbiose homem-tecnologia e do homem do futuro, da ciborguização. E ele pegava na relação entre um piloto e um carro de F1 como exemplo disso.
E gostas de perseguições de carros em filmes?
Há pouco tempo, para aí há dois anos, vi o Bullit. Só tinha visto a perseguição de carros, várias vezes, mas nunca tinha visto o filme inteiro. Uma coisa que eu gosto nas cenas de automóveis dessa época é o facto de ter muito pouca batota. Mais uma vez é a questão do digital. Tu sentes que aquilo está a ser conduzido, que há um lado quase documental. Era mesmo um carro a sério, ia lá mesmo uma pessoa a conduzir, aquela rua era uma rua a sério.
Havia actores que gostavam muito de corridas. O Steve McQueen. O Paul Newman.
O Paul Newman descobriu as corridas nos anos 70, quando entrou num filme cuja personagem era um piloto de automóveis, o Winning. É fraquinho. Ele fazia de piloto de automóveis já a entrar na decadência e o papel implicava que ele tivesse de conduzir carros de corrida. Foi aí que se interessou e começou a dedicar-se às corridas. Chegou a participar nas 24 horas de Le Mans e ficou em segundo lugar, em 79. Tinha 54 anos, a idade que eu tenho agora. E continuou a correr durante muitos anos. Acho que nunca se retirou verdadeiramente das corridas de automóveis. Depois dos 70, continuava a participar em corridas profissionais.
E outros filmes com perseguições de que te lembres.
Há um que eu vi quinhentas vezes quando era miúdo, que alguém tinha gravado em VHS… Só muitos anos depois é que tentei perceber que filme era... É com o Ron Howard como actor… Já não me lembro da história, sei que eles passam a vida a roubar carros, é uma espécie de perseguição, em que os carros estão sempre a ser destruídos, portanto eles têm de roubar novos carros e continuar a perseguição. Acho que o título português desse filme era Travões Avariados, Carros Estampados...
[Depois de pesquisar no telemóvel.] Used Cars, do Robert Zemeckis.
É esse...
É com o Kurt Russell.
Não era com o Kurt Russell, era com o Ron Howard.
Então não é esse.
Era um bocado apalhaçado.
Gostas de filmes de carros, tipo Vanishing Point?
Sim, mas acho que o interesse não vem dos carros. O Vanishing Point, o do Monte Hellman, o Two-Lane Blacktop.
Não tens fascínio pelo carro em si?
Gosto muito dos carros como objecto. Gosto de ver carros nos filmes. Gosto de ver filmes que tratam bem os carros, independentemente de haver perseguições ou não... Grand Theft Auto, é assim que se chama o filme. É daí que vem o nome daquele jogo de computador famoso.
[Voltando a pesquisar no telemóvel.] É do Ron Howard.
O filme é dele?
É a sua estreia na realização.
Eu vi esse filme quinhentas vezes quando era muito miúdo.
A morte a rondar
Voltando ao Red Line 7000, tem uma frieza em relação à morte.
O Only Angels Have Wings tem mais isso ainda, com os aviadores. No Hawks, isso é máscara de outra coisa. É quase uma farsa, uma auto-encenação de frieza, é uma maneira de lidar com a morte, fingindo que ela não é assim tão importante. Aquela cena inicial, quando chega a Jean Arthur. Morre um aviador e eles depois vão jantar. O cozinheiro diz «está aqui um bife a mais que era do não-sei-quantos». «Ai, eu fico com ele.» E ela, chocada, «mas como é possível estares a comer o bife dele?». «Ele já cá não está, não o vai comer.» E tu percebes que aquilo é só sublimação e catarse. As corridas de automóveis são um bom cenário para falar de outras coisas, assim como os westerns falam de coisas que não têm nada a ver com rebanhos de vacas e comboios e roubo das terras aos índios.
A proximidade com a morte estava muito presente quando tu vias intensamente F1.
Fazia muito parte do fascínio. Não dava nenhuma satisfação quando acontecia alguma coisa má, pelo contrário. Mas a excitação vinha da possibilidade de acontecer alguma coisa má. Estava-se sempre na linha milimétrica entre correr bem e a coisa correr mal. Dava um pathos incrível, que desapareceu. É inevitável, mas perdeu-se qualquer coisa. Lidamos cada vez pior com o perigo e a insegurança. Fatalmente as sociedades evoluem para eliminar perigos e reduzir a insegurança. E é natural e tem de ser assim, mas…
Quando foi a morte do Senna, não morria ninguém há não sei quantos anos.
Nesse fim-de-semana, morreram dois, ele e o [Roland] Ratzenberger, e houve o acidente grave do [Rubens] Barrichello. Depois, na corrida, mais não sei quantos acidentes. Esse fim-de-semana foi a coisa mais esquisita de sempre da História da F1.
É impressionante como nos anos 70 havia não sei quantas mortes por época.
Não só mortes, como acidentes graves. É uma adrenalina. Não sei o que os motiva. Muitas carreiras acabaram prematuramente, porque os pilotos se partiram todos e nunca mais voltaram a ter condições físicas para guiar um carro de F1. Alguns ficavam completamente estropiados, mas aquilo é uma coisa tão forte, tão avassaladora, que arranjavam maneira de guiar. O [Clay] Regazzoni ficou paralítico, depois de um acidente em que o carro ficou sem travões no fim de uma recta, no circuito urbano em Long Beach. Aquilo era uma recta enorme e depois havia uma curva fechada e à frente dessa curva ficava um muro de cimento gigantesco. Foi contra o muro. Lembro-me de ver essa corrida na televisão, só se via uma nuvem de fumo, parecia o 11 de Setembro em ponto pequeno. Eu pensei «este gajo desapareceu». Não desapareceu, mas afectou-lhe a espinha e nunca mais mexeu as pernas. Passados dois ou três anos, estava a participar no Paris-Dakar em camiões com mudanças, acelerador e travão no volante. É uma compulsão. Só uma pessoa com cabeça especial é que se predispõe àquilo.
É um bocado suicidário.
Há um death wish. Uma vertigem, mesmo. Voltando aos filmes e ao que pode ser interessante dramaticamente, acho que a psicologia dos pilotos de F1 é uma coisa interessante de se explorar, mas não há muitos filmes que façam isso. O Rush, sim. Aquele Niki Lauda e aquele James Hunt são credíveis.
Não os entendes assim tão bem.
Mas a questão é não os entender. Passados para aí trinta anos do acidente, o Niki Lauda aceitou que uma televisão qualquer lhe fizesse uma entrevista no local preciso do acidente, no circuito de Nürburgring. Ele passou por um talho, comprou um bocado de orelha de porco e, quando está a ser entrevistado, faz de conta que deixou cair alguma coisa ou que viu qualquer coisa no chão, apanha o bocado da orelha de porco e diz assim: «Ah, andava há trinta anos à procura disto.» (Risos.) Acho que nunca foi para o ar, porque acharam que era de demasiado mau gosto. Mas é genial.
Breves impressões
VOL. 1, de Novulent
Só agora, pouco antes de começar a escrever este texto, é que vi a cara de Novulent, num vídeo do YouTube. Não fazia ideia de como era, só o conhecia de nome. Quer dizer, também não faço ideia de como se chama realmente.
É um miúdo, que nem devia ser nascido quando os Deftones acabaram (aparentemente, nunca acabaram; substitua-se por «deixaram de ser relevantes»). Já para não falar do período áureo do shoegaze, dos My Bloody Valentine e dos Slowdive, que ficou ainda mais para trás.
E, no entanto, Novulent é um dos melhores cultores do som de uns e de outros.
Ouça-se VOL. 1. A voz mergulhada em autotune e outros efeitos é quase tão inaudível quanto as de Kevin Shields e Bilinda Butcher nas canções dos MBV. Mas as guitarras, mais dramáticas do que sonhadoras, aproximam-no da banda de Chico Moreno. E Novulent junta ainda umas pitadas de música electrónica ao barulho — o drum ’n’ bass de «enchanting 2», talvez um caminho a desbravar pelo músico.
Tomei conhecimento desta nova geração de praticantes de shoegaze (alguns muito novos, com menos de dezoito anos) num artigo no Ípsilon do início do ano, que por sua vez se baseava num texto mais extenso da Stereogum.
Qualquer deles é um bom ponto de partida para começar a perceber o fenómeno de popularidade do género no TikTok, que fez dos Duster, uma banda do final dos anos 90 quase desconhecida, das preferidas dos ouvintes mais novos.
Os artigos levaram-me a ouvir alguns dos nomes citados. Dois destacaram-se: flyingfish e Novulent. Ao princípio, pensei que iria dar maior atenção a flyingfish, mais parecido com o shoegaze «clássico» de que gosto, mas foi Novulent que passei a ouvir repetidamente. Uma e outra vez. Eu que, embora simpatize com a banda, nunca ouvi um álbum inteiro de Deftones.
Entretanto, já há VOL. 2.
Severance, de Dan Erickson
Severance é uma série de ficção científica. Daquele tipo de ficção científica que se parece com a ficção normal. É quase tudo como na «vida real» à excepção da premissa (e de outros mistérios ainda por desvendar no final da primeira temporada).
Embora seja simples de compreender, a premissa de Severance é rebuscada: a consciência dos trabalhadores de uma empresa divide-se entre trabalho e vida familiar. Ou seja, quando estão no escritório, não se lembram do mundo lá de fora. Quando estão no exterior, não fazem ideia do que fizeram durante o dia útil.
As personagens no trabalho são infantis, são como recém-nascidos, ou crianças pelo menos. O seu universo é obviamente curto. Preocupam-se com prémios de melhor trabalhador e veneram a história da empresa, o seu fundador e todos os directores que lhe seguiram.
Os «innies», como são conhecidos, são seres inferiores, não têm querer. Ficarem fechados para sempre num escritório sem janelas é uma punição que não conseguem compreender. Imagino-os como os animais domésticos, como a nossa gata. Nós, donos, quando estamos fora, esquecemo-nos deles, não sabemos o que sofrem na nossa ausência.
Ao invés de outras séries do género (Black Mirror, por exemplo), Severance não é niilista, dir-se-ia que tem coração. A história de amor entre John Turturro e Christopher Walken é de uma beleza e de uma sensibilidade inimagináveis para quem estiver a ler a frase «a história de amor entre John Turturro e Christopher Walken».
Apesar da singularidade daquela paixão, a relação jamais é tratada como piada ou sequer com estranheza. É natural, singela e bonita. E triste, no final.
Alguns episódios são realizados por Ben Stiller, num tom sempre a roçar o satírico (a personagem do autor de auto-ajuda é a que passa mais das marcas). Mas nunca ultrapassa a fronteira. Essa é uma das maiores qualidades deste segredo infelizmente bem guardado.
A segunda temporada já está anunciada. Não deve tardar muito.
As Planícies, de Gerald Murnane
Ao contrário do que costumo fazer, li As Planícies, de Gerald Murnane, em português. Foi-me oferecido por uma amiga, que o recomendou vivamente (até disse que se eu não gostasse do livro, ficava com ele). Por isso, falo desta edição, e não da original.
De qualquer forma, a tradução de Miguel Romeira é suficientemente boa para não darmos por ela. (Será que as traduções têm de ser como os árbitros de futebol? Em certo sentido, sim. Se não reparamos nelas/neles, é sinal de que não cometeram muitos erros e nenhum deles foi clamoroso. Claro que o trabalho de tradução é bem maior do que isso, mas o português ser escorreito, o estar bem escrito contam como não-erros. O que pode ser injusto, de facto… Para resumir e sair deste parêntesis, a tradução é boa.)
O protagonista de The Plains lembrou-me o de O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Giovanni Drogo perde anos e anos a olhar o horizonte, à espera do ataque dos bárbaros que nunca chega, «ali atrás daquela neblina não serão eles?» (parafraseio, não é uma frase do livro), e esquece-se de viver. (A analogia não é particularmente subtil, mas é eficaz.)
O jovem cineasta de Murnane, assim como as outras personagens de The Plains, também passa a vida a olhar o nada, enfeitiçado pela ausência de qualquer alteração na paisagem. Está tão preocupado em agradar ao mecenas, em fazer justiça ao objecto que vai retratar, em pesquisar todos os assuntos a fundo, que a obra nunca avança. (Outra analogia fácil de compreender.)
A capa de As Planícies é preta. Na Bazarov — uma editora-cometa, que atravessou os céus do mercado editorial português, flamejante e viva, para depressa se apagar — as capas negras estavam reservadas para ficção, enquanto as brancas anunciavam os ensaios.
O catálogo é óptimo (ainda se encontram alguns livros por aí). Num rompante (o tempo em que existiu), a Bazarov publicou David Foster Wallace, Brian Dillon (Ensaísmo é um livro essencial), Robert Walser, Lydia Davis, e apresentou nomes até aí por publicar em Portugal, como o de Gerald Murnane, autor deste livro.
Por hoje é tudo. As palavras são minhas (e, esta semana, do Luís Miguel). A revisão é da Beatriz Marques Morais. Espero que tenham uma boa semana. Até ao próximo domingo.







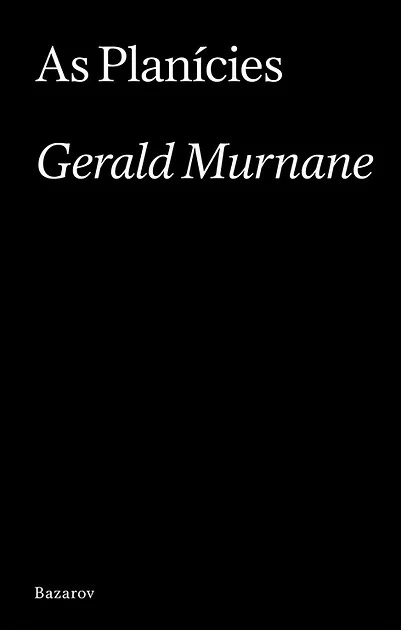
Capacete. E um dos melhores filmes a estrear este ano entre nós é o Ferrari, do Michael Mann. A ideia da entrevista mensal parece-me óptima, mas isto lê-se sempre bastante bem anyway.
Capacete. Há uma boa perseguição de carros no The Seven Ups.